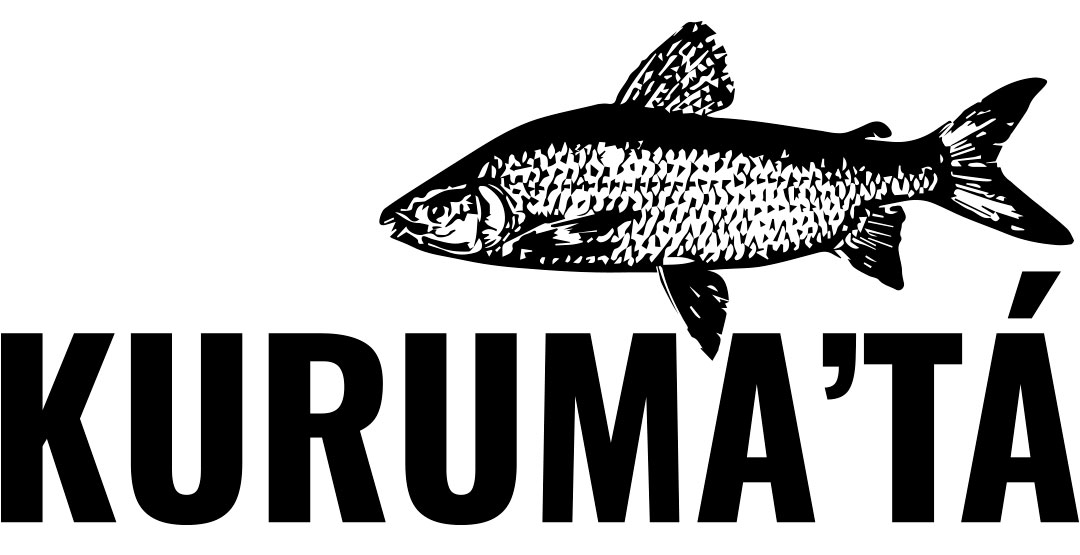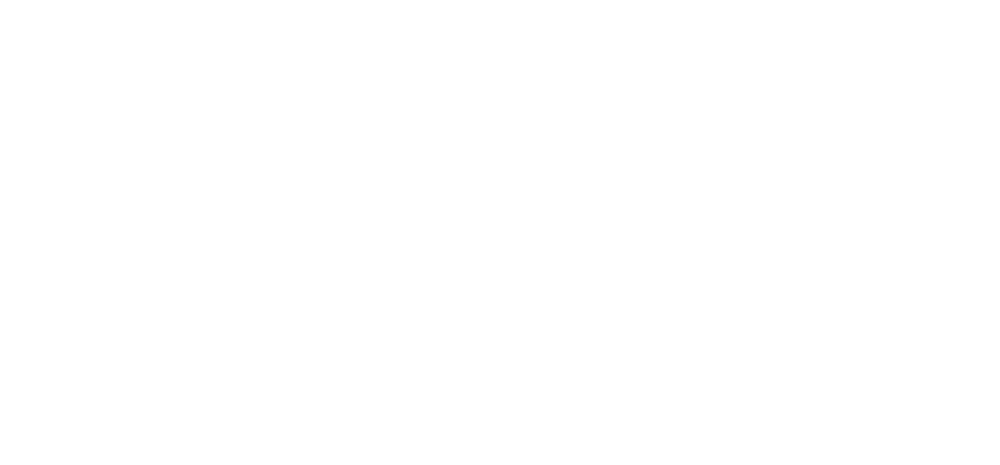Fui ter com a Vera Mantero à Oficina Municipal do Teatro numa correria para aproveitar a pausa que tinha do seu trabalho. Enquanto comia uma maçã vermelha, a Vera ofereceu-me a outra ponta do sofá, fazendo notar que era o seu momento de descontracção. Percebo, pois o espectáculo que estaria prestes a apresentar seria tudo menos descontraído, não fosse ele uma viagem ao lugar dos monstros, do obscuro e do feio. E por isso mesmo, a nossa conversa fez-se num ritmo macio, absoluto respeitador do momento.
Por Carina Correia

Começamos pelo espectáculo ― Esplendor e Dismorfia ― que apresentas aqui em Coimbra, em co-criação com o Jonathan Uliel Saldanha, no âmbito do Linha de Fuga. Ele foi resultado de um convite feito em 2019 pelo Festival de Avignon. Como aconteceu esse convite?
Esse convite foi feito pelo Festival de Avignon no âmbito de um projecto que se chama «Les Sujets à Vif», que é «Sujeitos em Carne Viva», mas depois eles mudaram o nome para Vive le Sujet!, embora eu goste mais do anterior. Nesse projecto, eles juntavam uma pessoa da área da dança, da coreografia, e uma pessoa de outra área. Durante um tempo, eles escolhiam as duas pessoas, mas a partir de certa altura resolveram propor só a uma e que essa uma escolhesse a outra. Então, propuseram-me a mim e eu propus ao Jonathan.
Já conhecias o Jonathan?
Conhecíamo-nos muito mal, tínhamo-nos encontrado num festival em Brest. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar dele, tinha uma vaga ideia do que ele fazia, mas bastante vaga. Nesse festival em Brest, vimos o trabalho um do outro. Eu estava a fazer Os Serrenhos do Caldeirão, um solo que eu tenho, e ele estava a fazer um trabalho que é meio instalação, meio performance. Entretanto, falámos dos trabalhos um do outro e gostámos muito de conversar. E pronto, quando surgiu esta oportunidade de escolher alguém, pensei no Jonathan como uma boa oportunidade para o voltar a encontrar e para cruzar as coisas. A proposta desse ciclo era curiosa, porque mesmo a pessoa que não é da área da dança tinha de estar em cena. E isso foi também uma coisa engraçada em relação ao Jonathan, que é uma pessoa que, por um lado, está em cena quando toca, e ao mesmo tempo está atrás dos instrumentos, não está «sem nada». Contudo, é uma pessoa das artes visuais, que cria imagens, situações espaciais, e então achei que era uma situação engraçada para lhe propor.
Mais tarde, foi apresentado em Guimarães, certo?
Sim, fomos a Guimarães em Fevereiro deste ano.
Foi exactamente igual ao original e ao que será apresentado aqui?
Igual, mas tivemos de refazer a banda sonora, porque tem muita palavra. Quando fizemos para Avignon, fizemos em francês, para aqui tivemos de traduzir para português.
Que reflexão, se é que existe, está por trás das tuas coreografias? Ou seja, pretendes dizer algo ao mundo com o teu trabalho?
Bem, isso é muito vasto. Porque depende muito dos trabalhos: nuns, queremos mostrar uma coisa, e noutros, outra.
Fiz essa pergunta para entrar um pouco no contexto do tema do Linha de Fuga, que é «A Democracia». O corpo pode ser para ti matéria política, uma forma de te posicionares?
Eu acho que só pode. Há pouco tempo, alguém perguntava, não me lembro já a que propósito, se somos donos do nosso corpo. E eu disse logo que não. Somos muito pouco donos do nosso corpo. Há imensas regras impostas ao nosso corpo, mesmo que não nos lembremos delas todos os dias. E desde que nascemos. Mal nascemos, há logo uma data de regras impostas ao nosso corpo. Por acaso, uma vez vi um documentário sobre o nascimento e o tratamento dos bebés nas primeiras horas em várias culturas. É interessantíssimo, porque são milhares de maneiras diferentes de nascer e de lhes acontecer qualquer coisa logo nos primeiros minutos: se vira ao contrário, se não vira, se entrapa num trapo, se não entrapa, se lava ou não lava, etc. Essas coisas transformam imediatamente a tua vivência no mundo. E isso tudo é político, é religioso, é uma série de coisas. Mas tu perguntavas acerca do meu trabalho… Há uma coisa que percorre muito o meu trabalho, talvez até nem tanto neste especificamente, que é o estar numa cultura em que o corpo é muito constrangido, apesar de haver outras piores.
Falas numa cultura europeia?
Falo na ocidental. Portanto, sempre me interessou muito investigar como seria um corpo menos constrangido e como é que ele funcionaria, porque uma coisa é achar que ele é constrangido e outra é saber como ele seria e o que faria se não o fosse. E eu não sei, porque não vivo numa cultura que não seja constrangida, então, tenho de experimentar o que é desconstranger: um comportamento, um corpo. Acho que isso é algo que atravessa bastante o meu trabalho, e é uma perspectiva política também.
E isso foi um pouco o que tentaste fazer na oficina que deste no Linha de Fuga: «O Corpo Pensante».
Sim, também. É o tipo de coisa que faço muito.
Parece-me que é possível ligar essa ideia de desconstrangimento a um conceito a que te referes, e que trabalhas nestas oficinas, que é awareness.
Isso é um trabalho que se faz, que não dá para explicar tim-tim por tim-tim. Trabalho muito com o abrir o corpo, com a respiração, com a relaxação, com coisas que façam com que seja possível abrir canais no corpo, abrir correntes a circular no corpo, coisas que tanto o predisponham como o activem. Há uma fina linha entre abrir e ficar sem energia e abrir e activar, e tem de se ficar num meio caminho entre as duas coisas. Abro muitos canais para a voz, tentando usar todos os meios possíveis dos quais a voz faz parte. Uso muito a escrita também, para acordar ligações entre o verbal e o não verbal, e que essas ligações fiquem em acção mesmo quando a escrita entretanto é posta de parte. Depois, trabalho também a própria noção e consciência do espaço e das relações no espaço e no tempo. Este tipo de coisas.
Gostei muito de ler na tua descrição desta oficina a palavra ironia, e o facto de ela «nos levar mais longe». Podes desenvolver essa ideia?
Há coisas que na dança são um pouco complicadas e nas quais é fácil cair. A vaidade, por exemplo. A dança faz corpos bonitos, ficas elegante, e as pessoas crescem muitas vezes à frente de um espelho. Então, se és bonita e passas a vida à frente de um espelho, é tramado não ficares numa postura de um certo poder através da beleza ou da sedução, da imagem, e isso tem de se estar sempre a puxar para trás. E relaciono logo com a ironia, porque é preciso ter uma certa capacidade para rir de si próprio, para não se levar muito a sério, para não entrar nesse género de posturas que são muito desinteressantes, e não é fácil não ir atrás delas, pois estão muito à flor da pele. A ideia de não se levar muito a sério para mim é muito importante porque é logo uma forma de cortar com essas tendências e ir contra a tentação da tomada de poder. Seja pela super-imagem, pela super-sedução, seja pela esperteza, pela suposta inteligência, as tomadas de poder em cena, no geral, têm de se acautelar; tem de se ter cuidado para não se ir atrás dessa tentação. A ironia, o não se levar a sério, ou um certo despojamento, são coisas importantes para cortar as vazas a essas tendências. São questões que eu costumo chamar de ético-estéticas, porque ficam ali a meio caminho entre um problema ético ou estético.
Há pouco dizias que usavas a escrita para criar ligações. Na tua perspectiva, como se cruza então a linguagem da palavra e a linguagem do corpo?
Eu costumo gostar de dizer que não tenho a certeza se foi boa ideia a dança autonomizar-se como forma de arte. A dança só muito tarde é que se autonomiza como forma de arte, como arte cénica, digamos. Tinhas as danças sociais, tinhas danças entrosadas noutras artes cénicas, nas óperas, nos musicais semi-dança, semi-teatro, tinhas assim umas formas híbridas. Depois, a certa altura, a dança fica uma forma de arte autónoma e existe por si só. Se, por um lado, a dança não teria evoluído como evoluiu e chegado aos lugares onde chegou se não se autonomizasse, por outro lado, isso significa que ela perdeu a palavra, ficou muda, perdeu pelo caminho algumas coisas que ao mesmo tempo, eu acho, lhe fazem muita falta, e que não são muito naturais de perder, porque nós na vida também não estamos calados, não é? Mexemo-nos, falamos, fazemos tudo. Portanto, essa autonomização é complicada, mas não a renego, porque vejo que foi importante para levar a dança a lugares a que não chegaria sem ela. Contudo, depois fica desprovida de uma série de ferramentas que são muito importantes também. Fica desprovida de objectos, de entorno, vai-se despindo cada vez mais e mais e às tantas fica numa situação em que tem de tentar dizer tudo ― dizer entre aspas ― só através de esbracejar, de gesticular. Isso é muito ingrato, e muito difícil. Eu acho que na dança querer abordar questões é uma tarefa um bocadinho inglória. É um território um bocado árido. Acho que se chegou a uma altura na história da dança em que uma pessoa começa a ter de pensar em como traz de volta uma série de coisas, para não estarmos nesta aridez, nesta secura total, onde nos faltam ferramentas. E é preciso trazê-las de volta. Na história da dança, vês que se vai para certos lugares porque se começa a ver onde se agarrar para não estar nesta secura, neste deserto, de corpo nu. Em diferentes momentos históricos, a partir das décadas de 1960 e 1970 e até hoje, foram-se encontrando variadíssimas formas de recuperar meios para sobreviver a essa aridez a que se chegou.
És então uma combatente.
Sim, eu faço parte dessa luta.
Gostas mais de dirigir ou de dançar? Há peças em que não entras.
Há, mas não são muitas. Gosto muito de entrar nas peças. Agora que já estou com uma certa idade, parece-me que talvez isso aconteça menos, mas será mesmo só por isso. Gosto muito, muito, de actuar. Acho que é uma oportunidade extraordinária de vivência. É uma vivência intensificada, é uma vivência outra. E é muito raro ter essa oportunidade; a maior parte das pessoas não a tem. A oportunidade de ter uns momentos na sua vida onde está noutra temporalidade, noutro comportamento, noutra postura. Coisa que existe em culturas que têm, por exemplo, muito mais actividades ritualísticas, actividades outras que não sejam do dia-a-dia normal. Nós só temos basicamente o dia-a-dia normal, temos muito pouca coisa que saia dele, da coisa utilitária, da coisa prática. Mas de outras dimensões, sem serem essas do dia-a-dia utilitário e daquilo que serve para alguma coisa, temos muito pouco. Mesmo a nossa religião é muito desprovida de reais actividades outras. Eu, já que tenho estas oportunidades de ter essas actividades em cena, não gosto de as perder, porque são raras e me fazem falta, fazem-me mesmo falta. Isto para voltar à tua pergunta. Na maior parte das vezes, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, o que representa as suas dificuldades, mas prefiro. Eu sempre achei que era muito difícil entender um trabalho de fora, porque por dentro eu entendo, melhor, eu entendo-o pelo dentro, ou seja, entendo uma série de coisas do trabalho por estar lá dentro e não é por o ver de fora, pois não é uma simples questão pictórica. E há essa questão: se, por um lado, estar dentro às vezes dificulta, porque uma pessoa não está de fora e não vê outras coisas que é preciso também ver e ter noção, por outro, faz-me entender coisas no trabalho de dentro que de fora não consigo entender.
E gostas de ter esse retorno que vem de fora?
Também me dá muito jeito, sim. Não é a única forma.
A tua vasta internacionalização permite-te fazer algumas comparações com os diferentes estados da cultura e das artes em diversos países. Queres falar um pouco da tua percepção dessas diferenças?
Eu podia dizer que aqui a arte e a cultura têm perdido lugar, têm perdido importância, têm perdido o seu papel na nossa sociedade, o seu lugar, no sentido em que houve uma altura em que tinham valor. Por exemplo, nas alturas das campanhas eleitorais e dos programas eleitorais, quando vês qualquer debate sobre o que é que vai acontecer, o que os partidos vão fazer se ganharem, etc., nunca se debate o que vão fazer nessa área, nem nenhum jornalista pergunta, nem nenhum político se lembra de dizer. Quer dizer, se ninguém se lembra, aquilo já está enterrado, já não tem importância nenhuma para ninguém. E isso não foi sempre assim. Até seria um estudo interessante o analisar a degradação do discurso acerca da cultura nos vários debates eleitorais ao longo do tempo. Porque é que isto foi perdendo lugar e espaço e importância não sei explicar muito bem. Mas também sei que isto não é só cá e que é uma coisa que tem vindo a acontecer. Por exemplo, quando se pensa na ideia do intelectual e do lugar que tinham os intelectuais há umas décadas, em comparação com hoje, percebemos que faz parte deste enterro da cultura e do papel daqueles que pensam e cujo trabalho é pensar no mundo e nas sociedades. Não vou tentar pôr-me aqui a explicar nada, não sou capacitada para isso, mas também vejo este avanço de um capitalismo muito feroz, de um neoliberalismo em que é só produzir, produzir, produzir, acumular, acumular, acumular, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, em que isso se tornou no que é o importante. Não há cá espaço para devaneios. E isso claro que tem um lugar nesse enterro das actividades que são de olhar para o mundo, de entender o mundo, de configurar o mundo, de fazer objectos que configuram o mundo.
E como achas que se pode dar a mudança?
Gosto muito da frase do Manuel António Pina em que ele dizia: «quando eu era novo, pensava que ia mudar o mundo, agora que já sou velho, só espero que o mundo não me mude a mim». Portanto, não sei bem, fico aqui na minha escritazinha a ver se consigo manter isto e se não me dão cabo da minha possibilidade de fazer. Vendo nós que este género de movimentos a que vamos assistindo, de um capitalismo muito feroz, de uma mentalidade da produção desenfreada, foram crescendo ao longo de décadas, não vejo assim forma de desmantelar a coisa. Vemos como determinados movimentos muito catastróficos e muito destrutivos foram desmantelados, com grande destruição, por exemplo, em que o pessoal acorda e acha que é melhor não ir por aí. Mas dura pouco tempo. E depois vem tudo outra vez: é andar para a frente e para trás, para a frente e para trás. Portanto, talvez a resposta seja que haja tanta destruição que as pessoas parem um bocadinho. Não sei. Mas sei que graças a qualquer coisa, graças aos céus, há a arte, porque ao menos é um lugar onde uma pessoa pode não morrer tanto.
Agora com a Pandemia, sentes mais dificuldades na persecução do teu trabalho?
Não me posso queixar. Tenho apoios do Estado, tenho propostas, consigo trabalhar, não me posso queixar de todo. Senti grande alteração com a Troika, porque os apoios foram todos cortados a 50%, estávamos em 2012 e voltámos para 1998. Mas neste momento, há muita desprotecção, há pessoas que não têm apoios garantidos, é muito complicado, muito. Ficam a viver de quê? Do ar?

Este texto integra a coletânea produzida pelo grupo Crítica de Fuga, que acompanha os trabalhos dos artistas e as atividades do Festival Internacional de Artes Performativas – Linha de Fuga.