Entrevista a Aderaldo Luciano
Num ano que não me lembro mais, década de 80, nas imediações do Sambódromo, no Rio de Janeiro, durante um carnaval, sentei para comer qualquer coisa em um trailer, barraca, boteco, não interessa muito, e travei conversa, pouca, mas boa, com uma pessoa. Eu estava ancorando na cidade, conhecendo a sintaxe carioca, pernoitando nos recantos da Mem de Sá, vivendo suas boates e trabalhando numa companhia teatral instalada temporariamente no Teatro Nelson Rodrigues, na Avenida Chile.
Terminada a conversa, a pessoa saiu para lá e eu saí para cá. Depois me toquei que era um repórter da Globo: Edney Silvestre. Mais de 35 anos depois, sem mencionar o fato, solicitei sua amizade no Facebook e passei, de vez em quando, a trocar umas poucas palavras com ele, como naquele dia no carnaval. Quando da adaptação do seu livro Se eu fechar os olhos agora para minissérie, na própria Globo, pensei em propor uma breve entrevista para a Kuruma’tá. Não foi por causa do lançamento de seu novo livro, mas esse fato é importante agora, pois seu novo livro nos instiga.
Agradecemos a gentileza e generosidade de Edney por tão solícita recepção a minha proposta. Com ele inauguramos, aqui na revista, um espaço para essas performances, entrevistas. Pensei em chamar o espaço de Kuruma’tá em Transe. Não sou um especialista em entrevistar gente e gente importante. Gosto de conversar, tentei ser informal, mas também pesquisei alguma orientação para isso. Vale lembrar que O último dia da inocência, seu novo livro, pela Record, traça o caminho do êxito. Obrigado, Edney!
Aderaldo Luciano

Os leitores mais sensíveis e curiosos gostam de saber um pouco da vida do autor que estão lendo e com eles desenvolvem certos laços afetivos. Você pode nos falar sobre afetividade, dentro de sua família, depois nas relações sociais e de trabalho e como essa construção afetiva (presença e ausência) desenhou-se em alguns de seus personagens?
O jovem repórter narrador de “O último dia da inocência” foi privado de vida afetiva e amparo, quando sua família foi assassinada num complô que remete à ditadura Vargas. Eu, ao contrário, tive amparo e incentivo sempre. Não sei de onde vêm os personagens, como surgem, como continuam, como se encerram. Não os comando. Acredito que isso aconteça com muitos escritores, me lembro de uma entrevista em que Fernando Sabino falava de sua curiosidade ao escrever, aguardando como os personagens agiriam, a cada capítulo. Lembra do Zuckerman de Philip Roth? Nem sei mais quantos romances do escritor americano ele protagoniza. O que percebo, particularmente naqueles e naquelas que continuam vindo de um romance para o próximo (Silvio, que havia morrido em “A felicidade é fácil”, ressurgindo jovem e saudável em “Welcome to Copacabana”; Paulo, de “Se eu fechar os olhos agora”, continuando sua saga como expatriado em “Vidas provisórias”) , é que têm um sentido ético, uma retidão de caráter e busca de humanidade como lembro serem as de meus pais. Ela foi tecelã numa fábrica de tecidos em Valença, onde começou a trabalhar ainda menor de idade. Ele, dono de armazém, reconstruiu a vida com o apoio dela, quando sua “venda” pegou fogo e ficaram sem um tostão, já tendo dois filhos e com um terceiro a caminho. Sou um dos seis frutos dos bravos, incansáveis, Joaquim e Lourdes. Me inspiro na resiliência deles, quando as circunstâncias parecem mais sombrias.
Há um trabalho seu pouco conhecido talvez, e certa vez perguntei informalmente isso a você, que é a tradução. Que trabalho é esse? O que é traduzir? E mais: o que é traduzir textos técnicos e teóricos (você traduziu Existencialismo e alienação na literatura norte-americana, de Filkenstein, e Fundamentos de Filosofia, de Afanasiev)? Em que essas tarefas importaram no seu trabalho (seja como repórter, escritor e leitor)?
Traduzir, descobri com o tempo, me abriu portas de outras culturas, da vida íntima de personagens na América do Norte, França, Espanha, Rússia, entre outros. Tal como havia acontecido quando li, ainda adolescente, na biblioteca pública de Valença, os livros de Jack London, Charles Dickens, Thomas Mann, André Gide, Victor Hugo, Eça de Queiroz, Camus. Algumas das traduções técnicas que fiz – e você foi lá longe, lembrando de “Fundamentos de filosofia”- igualmente me ajudaram muito a percorrer aspectos de cultura que ajudaram na minha formação. Foram, um tanto, como os cursos superiores e as pós-graduações que não tive oportunidade de fazer. Gosto de traduzir e o faço, às vezes, por exercício de escrita, uma vez que é preciso recriar em português, em nosso ritmo e respiração das frases, as frase e respirações de língua estrangeira. Recentemente traduzi do inglês uma peça contundente do David Hare sobre os últimos dias de Oscar Wilde, intitulada “O beijo de Judas”.
Há toda uma geração, a geração a que pertenço, que acostumou-se a ver seu rosto na televisão, entrevistando personalidades, em coberturas de conflitos decisivos para o séc. XX, fazendo reportagens para o Globo Repórter e outros. Recentemente, ao invés de ver seu rosto, vimos sua obra “Se eu fechar os olhos agora”. Como a abertura desse caminho, a pavimentação da estrada, entre o repórter e o autor adaptado se deu? Você buscou? Você sonhou? Aconteceu? Isso é bom para o mercado do livro?
Acredito que se um escritor brasileiro é abraçado por leitores brasileiros, via televisão ou seja como for, apesar da avalanche publicitária e financeira que favorece os best-sellers estrangeiros, isso poderá ser bom para todos os autores, de todas as gerações. Houve uma época, não tão distante, em que a lista dos mais-vendidos era povoada por nomes nacionais como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Lya Luft, José Mauro de Vasconcelos, Érico Veríssimo, Luís Fernando Veríssimo, Nelson Rodrigues e outros tantos. Eram refinados e populares, ao mesmo tempo. Há dez anos um romance brasileiro vem, discretamente, batalhando e vencendo os mamutes internacionais: o delicado “Arroz de Palma”, de Francisco Azevedo. Fiquei muito contente com a adaptação que Ricardo Linhares fez de “Se eu fechar os olhos agora” (lembrando que ele já havia adaptado outros autores brasileiros, como Jorge Amado, na novela “Tieta”). O que eu havia proposto ao Ricardo era um seriado baseado em 12 contos diferente, mas ele era apaixonado por “Se eu fechar os olhos” e eu alegremente topei.
Certa vez eu estava no lançamento de um livro de um amigo, autor estreante, quando você chegou, adquiriu o livro, conversou brevemente com ele, parabenizando-o. Como é seu relacionamento com os autores novos? Há alguma procura por parte deles? Você tem um perfil aberto e acessível nas redes sociais, como funciona isso? É agradável, incomoda ou é apenas um prolongamento da vida real?
De certa forma, eu também sou “um autor novo”: meu primeiro romance, “Se eu fechar os olhos agora”, saiu há apenas 10 anos. Enfrentei o descrédito de parte da crítica, como acontece com tantos de nós. O fato de ser visto como “um global”, sem identidade própria, começou a ser vencido com uma crítica altamente elogiosa na Folha de São Paulo, assinada pelo respeitadíssimo Manoel da Costa Pinto, depois com o Premio São Paulo de Literatura, em seguida com o Jabuti de Melhor Romance, e mais as edições internacionais na Inglaterra, França, Alemanha, Sérvia, Portugal, Holanda, Itália. Meus perfis em redes sociais são abertos. Ouço e leio opiniões muitas vezes opostas às minhas. Acredito que se possa aprender ouvindo e discutindo. Só bloqueio ou elimino quando os comentários são ofensivos. Na época em que eu comandava o programa Globonews Literatura, eu sempre equilibrava a apresentação de consagrados, como Milton Hatoum, Adélia Prado, Luiz Ruffato, Saramago, Ohran Pamuk, com autores em início de carreira. Há bom escritores iniciantes em várias partes do Brasil. Alguns são excepcionais. Quais, o tempo e suas obras provarão.
A todo momento se fala em crises setoriais no Brasil. E mais ainda na crise do mercado editorial, o fim do livro impresso, editoras fechando, livrarias idem. Pelos interiores do Brasil profundo, contradizendo isso, acontecem cada vez mais feiras e festas literárias, nos quais os autores locais se confraternizam e promovem suas obras. Há alguma contradição entre o discurso do mercado e a prática literária? O livro digital e a autopublicação aparecem como saída para muitos autores. Você tem algum pensamento formado sobre isso?
Há pouco publiquei um conto, “A festa de Vargas”, em livro digital, numa coletânea de autores brasileiros que saiu pela Amazon. Três peças teatrais minhas (“Casa comigo”, “O brilho por trás das nuvens” e “Sarah em São Paulo”), vão sair breve em audiolivro pela Storytel. Há muitos caminhos, hoje, para o autor que quer partilhar suas criações. As feiras literárias, surgidas na esteira do sucesso estrondoso da Flip, estão aí mostrando que não há mais um único centro de difusão cultural, há muitos, por toda parte do Brasil. Pesquisas recentíssimas mostraram um movimento de recuperação do mercado de livros (saiu matéria na Publishnews). O modelo das megastores, misturando venda de livros com CDs e eletrônicos, é que talvez tenha naufragado. Mas gente do mercado fala, insistentemente, em má gestão dessas redes. Na Avenida Paulista, uma livraria dedicada exclusivamente a livros, a Martins Fontes, vive com seus três andares lotados – assim como seu auditório, onde diariamente há eventos culturais. Vi isso com meus próprios olhos, nos dias em que trabalhei ali para o lançamento de “O último dia da inocência”. Há esperança.
A Kuruma’tá agradece sua gentileza em nos falar.
Agradeço eu.

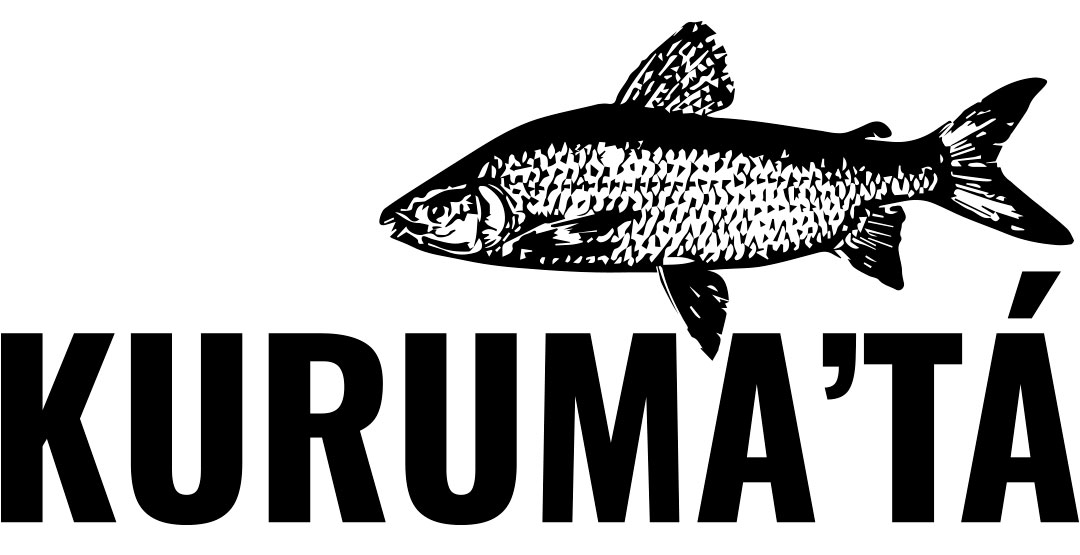
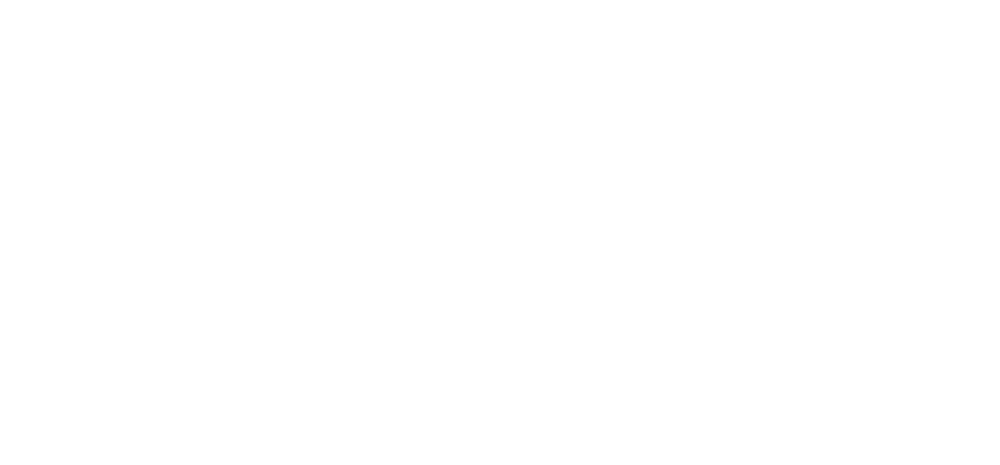
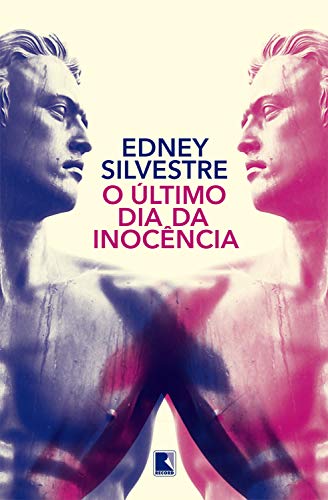
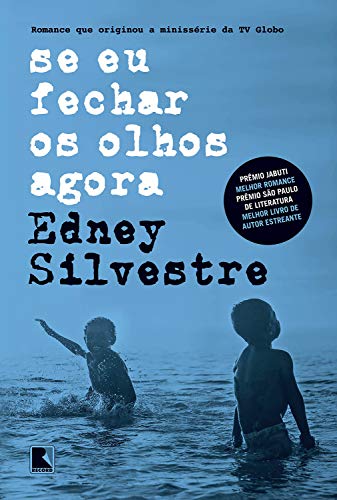
Grande!