Texto de Toinho Castro
Adentrei o reino da literatura com Maria José Dupré segurando a minha mão. Não que tenha sido dela o primeiro livro que li ou algo assim. Certamente foi o que primeiro me deu certa sensação de maravilhamento que só vim a conhecer com os livros, e que até hoje me acompanha. Creio que muitos leitores como eu, os nascidos nos anos 1960, podem afirmar o mesmo, pois crescemos todos ao sabor dos livros da Coleção Vaga-lume, lançada pela editora Ática em 1973.
A Vaga-lume, com seu perfil infanto juvenil, merece um texto só pra ela. Poucas publicações no Brasil foram tão cativantes, tão encantadoras. É incrível que hoje a gente olhe para a seleção de títulos da coleção e sinta que nada envelheceu, que os livros vão ao encontro de algo que está presente em qualquer geração, ainda que escondido sobas camadas de toda tecnologia e aplicativos e telas brilhantes a circular por aí. O menino de asas, de Homero Homem, O gigante de botas, de Ofélia e Narbal Fontes ou O escaravelho do diabo, de Lúcia Machado de Almeida, livro que me assombrou, não pela palavra Diabo,mas por escaravelho, que me parecia algo muito mais terrível.
Em meio aos quase cem obras da coleção estavam os livros de Maria José Dupré, e entre eles um clássico chamado A ilha perdida.
Enquanto uns tinham Júlio (Assim se escrevia na época, agora é Jules) Verne, eu tinha A ilha perdida. Mais que um livro, um refúgio. Eu que era menino urbano, que quando viajava de férias era para outra cidade, sintonizava minha respiração com a ideia de estar numa fazenda, com os primos, a conversa jogada fora, as pequenas aventuras, a noite enorme se abatendo sobre a mata em redor.
A ilha perdida, publicado pela editora Brasiliense em 1944, conta a história dos meninos Eduardo e Henrique e sua aventura na fazenda dos tios, em Taubaté. Só isso, para mim, já era o portal de um mundo mágico. Eu morava no Recife e Taubaté me parecia distante demais, um lugar onde eu nunca iria porque o raio de alcance do meu mundo era curto, abrangia no máximo o Rio Grande do Norte. Então Taubaté em si era um mistério e saber que ficava no Brasil e que ali podia acontecer uma aventura… isso era incrível. A fazenda, afastada da cidade, naturalmente, era cortada pelo rio Paraíba.
Ao atravessar a fazenda ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns dois quilômetros de distância e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de «Ilha Perdida». Solitária e verdejante parecia mesmo perdida entre as águas volumosas.
Há muitas lendas sobre a misteriosa ilha,sobre que bichos poderia abrigar ou se seria habitada. Que pessoa ou entidade solitária poderia viver ali. Eduardo e Henrique sonhavam com a ilha, com os planos mirabolantes de chegar até ela e desvendar suas veredas. A história acaba por nos levar com os dois meninos até ilha e lá, por conta de uma súbita enchente, os dois ficam preso e nós, os leitores ansiosos, presos com eles. Mas não estou aqui para contar a história, para dar spoiler de como os meninos tiveram que se virar na ilha enquanto o rio caudaloso os impedia de retornar para casa, ou do que lá descobriram.
Lembro dos títulos de Júlio Verne…. Viagem ao centro da terra, A volta ao mundo em 80 dias, 20 mil léguas submarinas, Cinco semanas num balão. Tudo tão enorme, vasto, tudo expandindo os domínios do homem e suas máquinas e sua ciência. Maria José Dupré nos levava para fazenda, para junto dos animais, em aventuras que perto das que o mestre francês engendrava, e que ela certamente leu, pareciam pequenas, mínimas. Mas eram nossas. Um brilho no cume da montanha, a ilha vislumbrada na distância, depois da curva do rio…essas imagens se materializavam como se fosse nossa vizinhança, logo ali, depois da esquina da rua Pampulha com a rua Itamaracá,a Imbiribeira, onde eu cresci.
Como eu disse no começo desse texto Maria José Dupré me pegou pela mão e me ensinou o amor pela leitura, o encantamento. Tenho essa recordação que não sei se é fabricada ou apropriada das histórias que ouvi da minha mãe. Certa vez, no caminho de Recife para Natal, para onde viajávamos de ônibus com frequência, a chuva forte que caía fez com que um rio que havia no caminho extrapolasse as próprias margens, selvagem, invadindo as ruas da cidadezinha próxima e os canaviais que se estendiam ao longo da estrada. A ponte havia caído e tivemos que cruzar para o outro lado numa espécie de barco ou canoa, que balançava no rio veloz e barrento, enquanto uma corda esticada de uma margem a outra servia de guia e segurança para o barqueiro. Lá nos aguardava o ônibus para seguir com a viagem sob a chuva. Isso me parecia uma aventura digna dos livros de Maria José Dupré. Vivida, inventada ou emprestada, essa era uma história que me fazia vibrar. Acima de mim Júlio Verne voava com seus foguetes e balões, sob as águas escuras talvez o Náutilos se esgueirasse. Mas era Maria José Dupré que abria o caminho naquele rio e contava aquela história.
Hoje, adulto, ainda me alimento desse encanto. Nas minhas viagens de ônibus ou avião, sempre que vejo um rio, uma ilha, me lembro da ilha perdida e penso que estou retornando para ela.
Obrigado, Maria José Dupré.
É incrível que seus primeiros livros tenham sido assinados como Senhora Leandro Dupré. Isso mesmo, com o nome do marido! Era uma época de profunda dominação masculina em todas as áreas, inclusive as artísticas. Hoje não precisamos desse senhor. Maria José Dupré é lembrada mesmo pelo seu talento, pela sua capacidade incrível de contar histórias, de narrar. Por ter, com seus livros, aberto portas que não se fecharam mais.




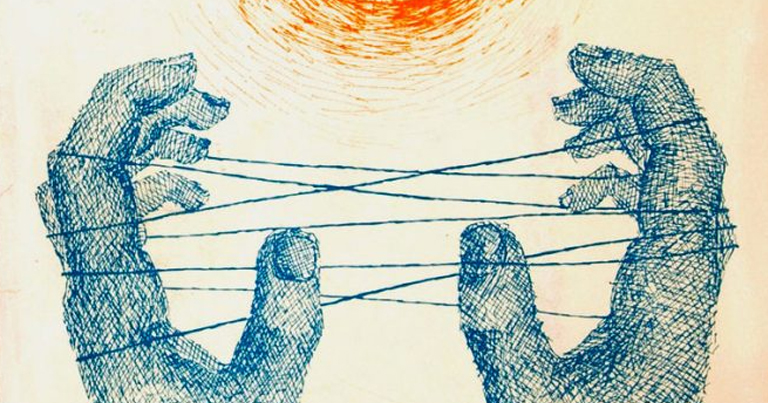



Sala de aula