Hoje tem gente nova inaugurando seu espaço na Kuruma’tá! Trata-se de Jaciara Rosa, mineira que gosta de mansidão, música e palavras. Vive de escrever com os pés fincados no chão e deseja flutuar um pouco, todo dia.
Jornalista pela UFJF, criou e coordena a Dedicata Cultura desde 2006, assessoria e produtora de conteúdo para redes sociais. Também estuda medicina tradicional chinesa e, vagarosamente, vai se construindo terapeuta.
Seja bem-vinda, Jaciara, às águas da Kuruma’tá.
Texto de Jaciara Rosa
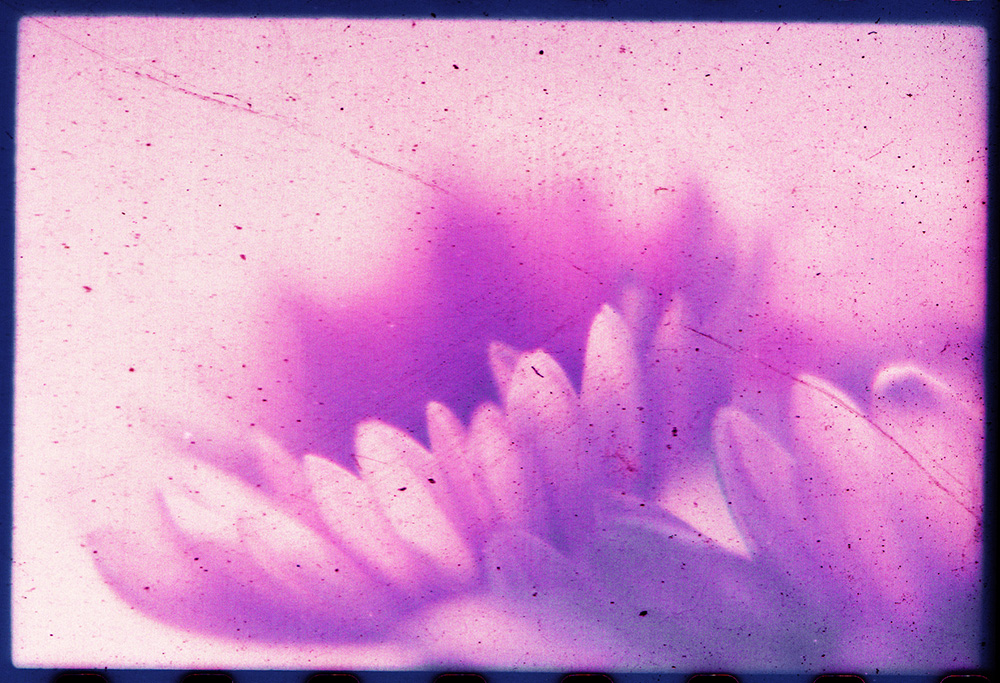
Não tinha sono algum.
A vontade era de ficar pendurada na janela e sentir a trégua que a brisa dava, à noite, naquele lugarejo sempre quente. Queria ver como era a cidade quando tudo ficava mais quieto. Imagina, com meus cinco anos, o que já não me causava um misterioso céu azul marinho com estrelas… Mas era importante demais manter as pálpebras cerradas.
No banco da frente, o silêncio e a solidão que a minha inocência já percebia e uma tensão no ar por causa do encontro forçado. Eu não queria nem saber. Começava meu ritual de birra lá pelas nove da noite e, eles, seus resmungos habituais. “Que bobeira isso, essa menina tá cheia de mimo. Depois quero ver…”. “Homem chato, eu hein! A gente nunca sai de casa, não custa nada dar uma voltinha, o balanço do carro faz ela dormir logo”.
Eu, com meus cabelos lisos e pretos de curumim e as bochechas cheias de saúde, tinha certeza que o pai ia ceder. Todo dia era isso. Pessoa orientada só pro dever, ele não aceitava a ideia de gastar tempo e gasolina dando voltas pela cidade pra filha única pegar no sono. A mãe, se pudesse, nem no carro nem na casa estaria. Aliás, fazia tempo que só seu corpo morava ali.
O balanço do carro. Foi minha primeira droga. Dei sorte da cidade ser feita de paralelepípedo. Os solavancos eram um colo de mãe pra mim. Ela não era mesmo de dar carinho. Não recebeu e não conseguiu aprender por conta própria. Taí uma coisa que eles tinham em comum. Não, também eram pessoas de bom caráter. Duas coisas e só.
Esticada no banco de trás, sem um pingo de vontade de dormir, continuava apertando os olhos até meu pai cansar da brincadeira inútil e estacionar o corcel verde musgo na frente da casa antiga, a porta na beira da rua e duas janelas altíssimas de madeira. “Pega ela”. “Ela não tá dormindo nada”. “Tá sim, pega ela”. “Uma marmanja dessa no colo…” E lá ia eu, caprichando no peso pra parecer mole, adorando ser carregada pelo corredor de tábuas corridas até minha cama.
Sabia que não convencia ninguém. Mas, para além das pedras que me embalavam e do colo do pai no final, algo mais dentro do meu peito de criança me fazia encenar aquela peça toda noite. O que eu queria, e hoje eu sei, era ver do meu rabo de olho fingido a mão dele pousando na dela, tímidos, ainda desconhecidos. Eu queria ver como era o amor.
13 de março de 2018







Que lindeza, profundo e singelo! Parabéns!