Texto de Aderaldo Luciano
1. O engenho de Aluísio fica vizinho à antiga propriedade do Pe. Maia, em Areia, na Paraíba do Norte. Aluísio era um galego desses que encontramos pelo brejo, olho aceso, herói verdadeiro, terror dos meninos que, como eu, adentravam seu território sem pedir licença. Nós o respeitávamos como a uma entidade guardiã das matas e capoeiras. Seu engenho ainda está de pé e funciona sazonalmente.
A moenda está em dia, parecendo uma escultura da pós-modernidade. Essas rodas moveram o mundo brejeiro em certo tempo. Fizeram a vida girar, fizeram a vida voltar ao ponto de partida a cada volta. As tachas de ferro, da maior à menor, iam fervendo a garapa, o caldo da cana, até que, na última e menor delas, se formava o mel, o melado, grosso e escurecido, cheiroso e doce, mas carregado de suor.
Dessa tacha menor, o mel era levado para uma outra tacha, fria. Alguém de braço forte e ágil deveria trabalhá-lo com uma espátula, em giros rápidos, cobrindo e recobrindo, molhando a mesma espátula na água para não grudar. À medida que esfriava, o mel ia tomando uma textura mais pastosa. Antes de endurecer era deitado nas tábuas de rapadura, formas de madeira, onde, descansado, transformava-se em rapadura. Foi a rapadura nossa maior guloseima, nossa mais antiga paixão.
As noites foram sempre agitadas nos engenhos, o serão, as conversas de assombração, as visagens, os malassombros, todo o fio da “puxa” estava recheado dessas reinações. A noite foi mais forte e o breu mais agudo. Nascemos, nós do brejo, rodeados pela história dos engenhos, ladeados por engenhos fazendo história, acompanhados pela triste história de homens cujos suores adoçaram o fel de nossas vidas.

2. O sol fugidio suspirava arquejando, assassinado pela rotação da Terra, ilusão louca. Em sua falsa caminhada pelo céu, ele, o sol, entra pelas portas, janelas e corpos, vivos e idos, da casa grande e abandona-a ainda a pino, no zênite. Entra, mas não sai, visto que, em um segundo turno, entrará novamente, para desfazer-se em sombras logo mais às 18 horas.
Na cidade de Serraria, na Paraíba do Norte, vislumbramos a Baixa Verde. A estrada de barro vermelho e alaranjado, percorrida nos cavalos da motocicleta, é sempre declive, escorregando pelo flanco dos morros, demarcada por cercas de arame farpado em troncos de sabiá. A chuva deixou escrita sua letra em forma de vala curvilínea, sensual e traiçoeira.
Na primeira encruzilhada, a Casa Grande sorri amarelada pelo sol da História Colonial e suas nuanças. O fausto de suas linhas humilha a solitária senzala à frente. Mas seus dias de glória e poder decaíram como um todo, acompanhando os momentos decisivos do brejo. Lembro, com estremecimento, que meu pai comandou essas terras, capataz e feitor.
O engenho está calado e mudo, seus bois de carro perderam-se no canavial da ilusão, seus escravos foram alforriados pela morte, seus senhores obrigaram-se a escalar as paredes escorregadias do desengano. Linda Baixa Verde, bela arquitetura: qual guardião zelará por ti o resto da vida inteira? Enquanto estive em tua presença, ouvi muitos dos teus desabafos, compreendi teu silêncio e reverenciei tua longevidade.

3. No final da estrada que dá para Pilões, vindo das terras da antiga usina Santa Maria, à esquerda, inicia-se a estrada que terminará em Serraria. Estrada de barro, veredas bem marcadas. Também do lado esquerdo dessa estrada encontraremos dois engenhos de fogo morto, caldeira fria, mudas moendas, bagaceira livre. Um é o engenho Boa Fé. E mais adiante vemos apenas o que sobrou do antigo e opulento Poções.
Sua chaminé aponta para alguma constelação oculta no céu, pois até a lua se esquiva do seu bolorento olho. O tempo, pelo brejo paraibano, passou rápido, rasteiro e devastador. Ninguém se deu conta desse tempo réptil e muitos cultuam a ascensão, maldizendo a queda, o tombo ribanceira abaixo. O brejo é rico em histórias de assombração. O brejo é pródigo em histórias reais, moldadas pelo lodo, pelos fungos, pelo esquecimento. No Poções, a engrenagem sonha oxidada.
Quando as trevas desceram, os antigos engenhos de cana-de-açúcar e seus senhores tornaram-se o espectro esquálido do seu passado de poder, ouviu-se o grito da terra, cobrando seus domínios. Calaram-se as moendas, suas bocas engolidoras fecharam-se para sempre. Suas imensas tachas, onde se preparavam o mel e a rapadura, vomitaram o fogo das caldeiras sobre o dorso dos seus donos. Os agregados e trabalhadores alugados (cortadores de cana, cambiteiros, tangedores, carreiros) viram-se asfixiados na derrocada dos seus patrões.
O fogo-morto instalou-se geral. A capoeira invadiu as cumeeiras, a vida abandonou as vigas, o verme (eita, Augusto) operou meio às ruínas. Hoje, a roda da moenda reflete meditativa sua sobrevivência solitária. O bueiro, vestido de autoridade desautorizada, mantém-se como marco do que foi e nunca mais será. Os odores da garapa cozendo são tão fortes quanto o cheiro da “puxa”: mas resta apenas o almíscar do abandono sob o som da última lágrima do derradeiro senhor.

4. O casarão de José Rufino está lá, assentado à beira do precipício. Suas vetustas paredes, pestanas e ventosas, observam o vale de imensidão. Tenho certeza que vê os revoltosos de 1817, cansados, caminhando à margem do riacho, subindo até o início da Rua do Bonito. A senzala, o pátio, o tronco desaparecido, tudo carcomido pelo tempo. Se houve gritos, o chicote rasgando as carnes, ou se houve gemidos, os senhores se lambuzando no sexo violento, o chão de pedra e o éter acima os guardarão para sempre.
Mas esse Casarão nos fala loquazmente de severas lembranças. Um tempo de fausto e opulência, um tempo doce para os senhores, um tempo amaro para os sem nada. Sem nada pois suas vidas e até suas almas pertenciam aos primeiros. Parece, por pequenos indícios, que Areia, a Terra dos Bruxaxás, onde nasci, contraiu grande dívida secular, paga a cada dia com sangue e surpresas. Mas também parece que essa dívida não foi assinada pela raia miúda. As mãos do homem comum não assinaram o fatídico pacto.
Indiferente, como marco e marca desses tempos, o Casarão se assina carrancudo. Suas subdivisões, cômodos, escadas, assoalho, fogão, sótão, janelas e luminárias retiveram energias estranhas. Esse Casarão poderia ser mais alegre, ter mais vida, mais cor, mais canções. Adquiriu os ares e as faces de repartição pública. À noite, me disseram, um cavaleiro apeia a sua porta, bate três vezes com a aldrava, ninguém lhe abre a pesadíssima madeira. Decepcionado, monta novamente em seu cavalo paramentado e risca em desabalado trote em direção a Pilões de Dentro. Deixa um risco de fogo e fumaça. Os moradores o observam pelas frestas dos postigos. Quando ele some no mundo, vão dormir em paz com seus pesadelos.


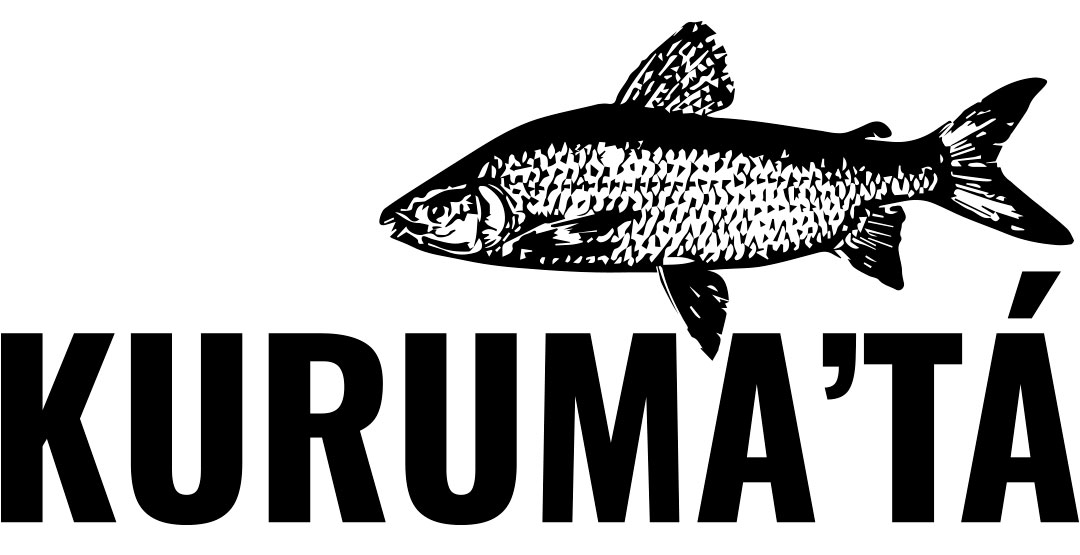
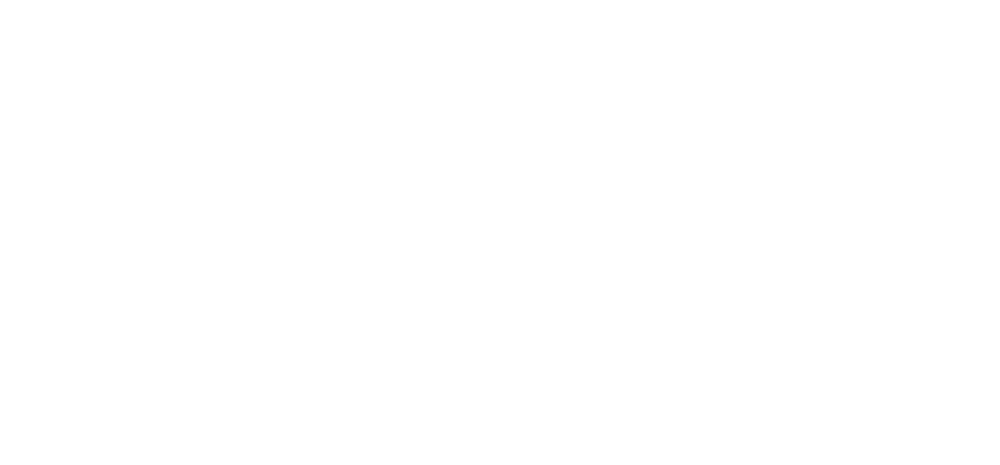
Parabens ao editores. Revista que faz pensar. Refletir. Parabens Aderaldo Luciano.
Obrigado demais, Ney!