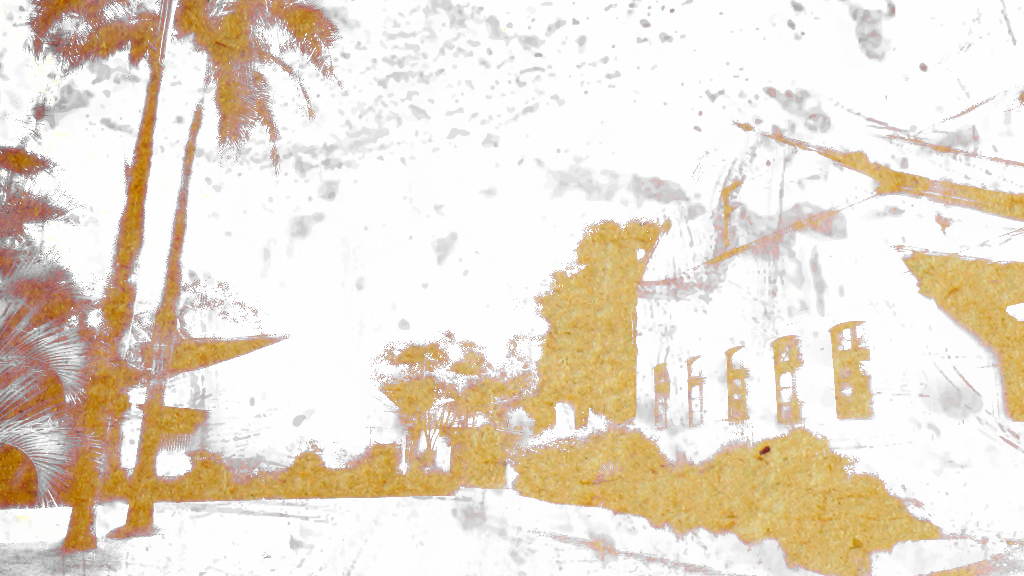André Moreno, mais um voz do Maranhão, de São Luiz. Uma voz jovem, potente e presente. Uma voz que não se cala, que não silencia, voz que se levanta ante a injustiça perene. André, seja bem-vindo à Kuruma’tá!
Mais uma recomendação preciosa da parceira Micaela Tavares!
Um conto de André Moreno —
Tudo isso porque não se confia
na delicadeza
dum engravatado indelicado.

Umas mãos debruçando-se a arar terra, outros colhendo flores e frutos, alguns capinando as matas e plantando as sementes, outros na caça, uns fazendo a alimentação e, as crianças, claro, brincando, imitando os adultos.
Mas o menino pressentia que naquela tarde a colheita não aconteceria da forma tradicional.
Não por maledicência do clima, muito menos incapacidade dos familiares e companheiros. Mas era por malevolência dos homens que chegavam nas terras vestidos com gravatas e seus ajudantes que possuíam armas.
O menino nunca havia visto alguém de gravata antes, não tinha porque, mas armas via todo santo dia. Já sabia que nem todo dia era santo, mas confiava nos segredos de Deus e na perseverança da comunidade, todos lá oravam aos fins da tarde, mas não puderam naquela específica.
Os homens de gravata e seus ajudantes pistoleiros levaram folhas e mais folhas escritas para mostrar ao seu pai, que não era dos caboclos letrados, mas que tratava dos assuntos da comunidade.
Era uma carta amarelada afirmando para sair daquela terra, isso dito em alto e bom som. Ela era da propriedade de um homem bem poderoso, que nem sangue de brasileiro tinha. Mas talvez eles não soubessem que como eles, de tempos em tempos vão pessoas alegando o mesmo. Dessa vez, os engravatados e armados tinham mais justeza do que falavam, aparentavam sustança na forma como ameaçaram o pai do menino e a comunidade.
Ele entendia que não arredava pé de sua terra, que não precisava ler as palavras para ter certeza das suas próprias, que se não avoassem dali qual galinha em terra de raposa; logo eles armados, mas em pouca quantidade, iriam se arrepender de não ter se despedido das esposas. O homem da gravata arrepiou-se todo, parece nunca ter visto a confiança de um camponês. Puxou o homem da arma para aconchegar no ouvido e sussurrou alguma criminalidade, que logo os dois se apaziguaram. Então eles prometeram de forma aprazível voltar e se despediram, mas ninguém do lado da colheita respondeu.
“Aqui ninguém se engabela com ameaça de grileiro”, afirmou o pai do menino, que logo saiu dialogando com cada companheiro da comunidade. Começaram a cerrar madeira, afiar facão, preparar espingardas que iriam se aposentar temporariamente de caçar bicho e agora protegeriam de gente, guardaram as colheitas no reservatório que era só para os momentos de pressa.
Tudo isso porque não se confia na delicadeza dum engravatado indelicado.
Tudo pronto, começaram a separar as tarefas, o que cada um devia fazer. A palavra “resistir” foi dita de forma uníssona. Aquela terra em que tanto se produziu e conquistou, que tinha casas e histórias, memorias e esperanças, seria entregue por qual razão? Essa pergunta para a comunidade nem existia, já que a resposta é que a terra jamais seria entregue. Cada um mais convicto que outro. O menino confiou-se e brilhou o olhar vendo o pai aprontando tudo para defender a vida das pessoas. Não era advogado, mas este sim defendia a vida das pessoas.
Ouviam nos rádios que as pessoas não gostavam deles, acusavam de invasores, mas como que eles eram invasores, se seus antepassados ali ergueram moradas? Acusavam de criminosos, mas como poderiam afirmar isso, se o trabalho na terra, sagrado pro camponês, era para alimento das famílias e comunidade? As pessoas da emissora não conhecem camponês, e aparentam nem mesmo querer conhecer.
No dia seguinte, os homens não vieram só engravatados e armados, mas vieram junto com os policiais. Desde cedo menino pobre sabe que aquela farda não serve para ele. Brincava de tiro com os outros guris, mas nunca se imaginando fardado. Chegaram lá na maior tirania, provando que não há tanta diferença entre capitão do mato e fardado do estado, e já foram buscando intimidar cada um.
Para estar lá, tinha que ter aval de político, de pastor, de rádio e tv, de tudo isso e o pior de tudo… é que eles tinham.
“Os jornalistas, os pastor das igrejas e os políticos preferem confiar na voz de gringo do que na voz de quem é parecido com eles”, pensou o menino.
“Seus preto imundo”, alegou um polícia, que nem tinha a cor tão branca assim, dirigindo à multidão de enxadas; é como se, ao menos, estivessem nessa terra só pretos. Tinha preto, amarelo, branco, tinha de tudo lá, mas se ele via todos com uma cor só, talvez o problema estivesse com a corporação, que não ensinou bem sobre cor aos comandados.
Viam e tratavam os camponeses como fossem gado, olhavam de forma pavorosa quase babando de tanta raiva. Gritavam e esperneavam alegando que se não saíssem dali o sangue iria pipocar, ignorando completamente que do lado da colheita tem todo tipo de vida.
Derrubaram o barracão onde o menino aprendeu a conviver desde mais menino, tantas vivências e brincadeiras que surgiam naquela mente que deixava a inocência de pouco há pouco. Esparramaram spray de pimenta nos olhos que por segundos acostumaram-se a uma nova visão. Ameaçaram gás lacrimogêneo, e tudo isso sem haver nenhum avanço do povo que ali estava.
Não vieram ter papo dessa vez, vieram dar solução cabal ao papel que nada dizia.
“Saiam dessa terra”, diziam eles. “E vamos para onde?”, indagou o menino.
Até que o engravatado surge da multidão de ombros, dos cachorros embevecidos, e se direciona ao pai do menino, que estava na frente do grupo de camponeses. “Vou dar duas horas para saírem daqui”, afirmou apontando na cara dele. “Vocês são muito canalhas, acham que somos fracos e não vamos resistir? Tão muito enganados. Por acaso nós somos criminosos? Nós somos trabalhadores, não tem criminoso nenhum nessas terras. A terra é de quem trabalha e nós que colhemos nela o que vocês comem!”, responde gritando para os dois lados e para si mesmo, este verdadeiro sujeito homem, revoltado com tamanha ingratidão.
Algo tomou conta do espírito do menino, do fundo da sua alma. Sua espinha gelou. Seus olhos, anteriormente atormentados, agora esvaiam-se em lágrimas, de uma espécie de esperança. De sobrolho dirigiu-se aos seus, viu no rosto de cada um e observou o seu próprio. Percebeu que estavam sozinhos contra todas as figuras imagináveis, mas, nunca estiveram tão juntos. Eram como um corpo só, uma mente só, uma única ideia, um único desejo.
A terra!
E não era somente aquela ali, que tinham desde antes de seu nascer, mas era toda terra que se concentrava nas mãos de homens como o tal gringo, que nem coragem para estar enfrentando-os tinha, que mandava capachos tentar açoitar adultos livres, que nem amava a terra, que nem dependia dela e muito menos iria arar nela.
Tomou-se de sua inocente existência dúvidas incontornáveis.
O que fez aqueles homens embrutecidos olharem seus iguais com tamanho desprezo e nojo, qual bicho qualquer? Por que tomar nossa terra? Por que todos não vivem juntos e de bem uns com os outros? Por que os que mais tem, mais querem ter à custa de outros?
Não se acomodou à sua angústia e ao medo dos seus. Não esperou a oração para exigir as respostas divinas, que aconteceria naquela tarde, e não aconteceu.
Quis responder ele mesmo agindo no ali, no real.
E tomado de revolta e, principalmente, do desejo de dar causa à sua dor, o menino tomou do chão um pedregulho qualquer e o dotou de sentido. O medo em seu âmago foi transformado em certeza da sua ação. Não resistiu à angústia imediata, a incertezas variadas e naquele lançamento, endereçado ao repulsivo homem da gravata listrada, deixou-se de ser um menino qualquer para tornar-se sujeito homem, como seu pai.
O endereço foi certeiro na cabeça do ignóbil homem, que desabou ao chão.
Logo os cabras armados sujeitaram-se ao susto, e apontaram seus fuzis para cima dos bravos camponeses, das mães com olhares pulsando de desgosto e elevando facões, das crianças compreendendo os passos da resistência com pedregulhos nas mãos, dos pais empunhando suas espingardas.
Todos eles perceberam naquele momento que a pedra não foi jogada só pelo menino, mas por todas as mãos, que na colheita agiam em conjunto, que seria feita naquela tarde, mas não pôde se realizar.
O seu pai começou a gritar como em uma guerra, vozes ecoaram como em um batalhão.
Não havia mais medo nos olhares, não havia mais equívocos ou ambiguidades nos pensamentos, muito menos tremelico nos lábios; havia sim uma inquebrantável, desejosa e racional coragem e confiança de que dali só um lado sairia vivo. E ninguém neste lado portava uniforme de polícia ou gravata.
Os polícias até tentaram pregar terror, mas acabaram aterrorizados com os bicos de espingarda, os brilhos dos facões, o formato dos pedregulhos, o ódio de cada um que estava ali gritando a existência para fora do peito. Não apenas as suas atuais existências, mas a de seus irmãos e de seus antepassados que fincaram os pés naquela terra, que se indignaram com o enredo escrito por latifundiários, de grandes lotes de terra na mão de quem produz fome e miséria.
Os polícias não estavam vendo apenas homens, mulheres e crianças; viam uma história de tragédias e de sucessos, de derrotas e de vitórias, de perdas e conquistas que era muito mais profunda e rica do que conseguiam imaginar.
Seus uniformes, umedecidos de suor e pânico, não sabiam se desertavam ou se partiam para o morticínio de um dos lados.
“A terra é para quem nela trabalha”, diziam uns camponeses ali. “Essa terra é nossa”, diziam outros camponeses dali.
E uma canção começou a formar-se dos pulmões extasiados pelo orgulho da união.
“A história não falha, nós vamos ganhar.”
Todos ali, dos dois lados perceberam qual era o momento da história, não havia revezes, não havia questionamentos.
Os homens de uniforme, então, desataram a partir qual preá fugindo de onça ao meio dia. A pinta de coragem desvanece com o primeiro gesto da força do unir de mãos e braços.
O horário daquela tarde definiu a forma como enxergariam a vida em comunidade a partir dali. Não eram os mesmos, não podiam ser. As palavras se tornaram pequenas, até os caboclos contadores de história não estavam acreditando no feito.
Conseguiram apenas dizer o que tinham a dizer ao fincarem a bandeira de sua luta ao chão.
O Sol, retumbando sobre os bonés e chapéus, sobre as camisas e as calças informavam que o luxo de comemorar ainda não havia chegado. Ainda havia trabalho a fazer.
Então o pai montou as equipes para o trabalho.
E olhando o menino nos olhos, percebeu que já não era mais um menino, seu pequeno ajudante até então, mas já era homem feito, de maturidade e responsabilidade.
E, nas novas divisões de tarefa, o menino ficou na parte das colheitas.
André Moreno tem 19 anos e aço faculdade de jornalismo na UFMA.
“Entendo a escrita, e a poesia em particular, como um instrumento de libertação dos oprimidos e acorrentados pelo modus operandi de um sistema de dominação material e colonização das mentes.
Entendo também como uma ferramenta de dar sentido à existência e aos intangíveis, pulsantes e, muita das vezes, dissonantes sentimentos que afloram no âmago das pessoas.” — André Moreno
EM BREVE, POESIAS DE ANDRÉ MORENO, AQUI NA KURUMA’TÁ. SE LIGUE!