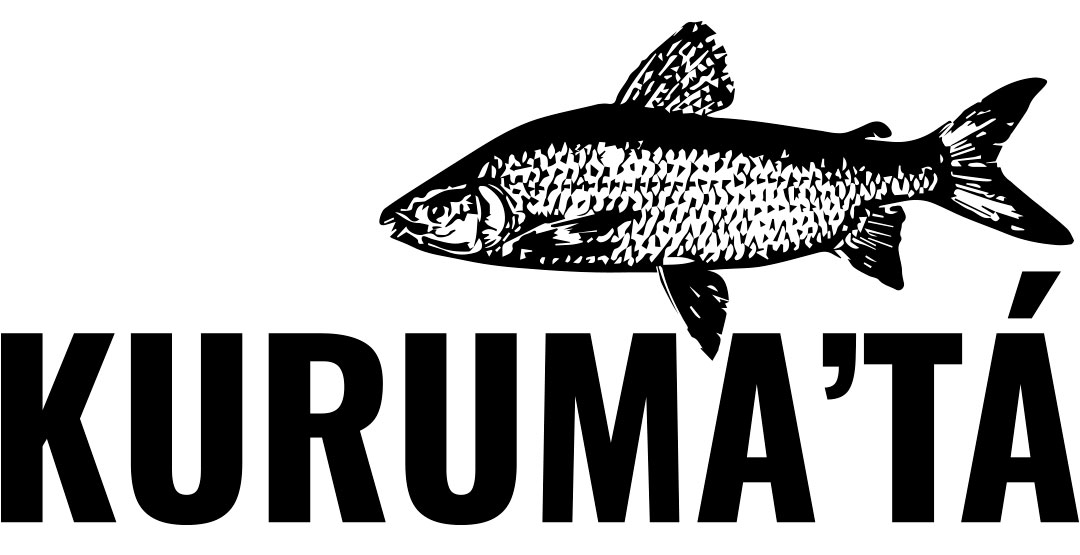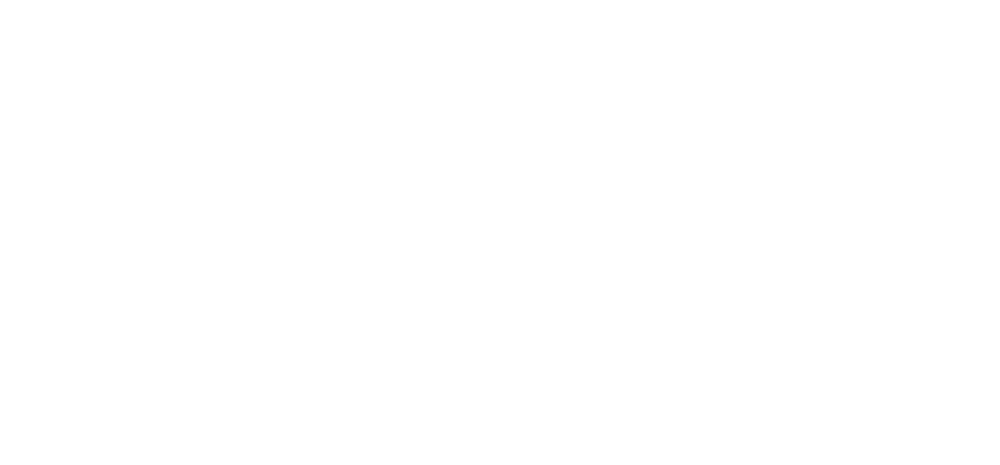Texto de Anderson Nogueira
Nasceu em noite de lua cheia, redonda tal qual queijo branco e brilhante; mas queijo por aqui só se conhece de ouvir falar pois nem as cabras dão mais leite pra fazê-los, tal a secura do pasto nesse estio que teima em não cessar. O céu, estrelado antes parecia revoada de tanto vaga-lume que nunca se vira um tantão assim por essas bandas; de tempos pra cá o calor anda tanto que nem vaga-lume tem dado as caras, só se vê vôo de mariposa asa de bruxa e de formiga arará.
O cenário que emoldurava a chegada do rebento, mais um na prole numerosa, tinha tudo pra ser poético, mas o calor extremo, a secura do chão, a chuva que teimava em não cair tornavam qualquer ternura em tormento, poesia em agonia, alento em sofrimento.
Nasceu. E como todo recém-nascido, sujo de sangue, sebento. Limparam-no com um pano quase branco – já tinha sido branco há tempos, quando aqui chovia e tinha água pra lavar… Não pode ser banhado pela parteira, água não havia quase, não se carecia desperdiçar, ia faltar pra beber. Quando tinha água pra beber…
A vida é dura por aqui, o chão é duro por aqui – não chove água pra molhar a terra, pra afofar o chão daqui. Nunca se vê lama por aqui – nem se sabe o que isso é nas bandas daqui…
A mãe do recém-nascido quase parece vó de tão enrugada, rosto envelhecido muito antes do tempo certo, a pele da cara é o espelho do solo do lugar: rachado, quebradiço, poeirento. Sem expressão. Sem alento. O suor que escorre marca a poeira grudada no rosto.
Não chora lágrimas da dor do parto, nem da alegria da maternidade; as lágrimas secaram, seja pela dor que já se acostumou – “nasceu rápido, tem boa passagem”, disse a parteira; seja pelo tamanho da prole já numerosa, “é o nono filho! Seis vivos”, disse o marido acendendo um cigarro de palha.
As lágrimas devem ter evaporado tal qual o açude da Vila, que nem o riacho que descia do morro marrom do qual sobrou só o leito, tal é o calor que faz aqui. Se tivesse lágrimas chorava muito só pra ver se juntava água, ainda que salgada.
O último rebento cresceu, “como o tempo passa rápido igual carreira de bode”, assim se diz por aqui. Já tem sombra de bigode e tanta espinha na cara que parece mandacaru de janeiro, que não fulora na seca. Quase nunca viu chuva, nem se lembra quantas vezes. Não conhece enchente, temporal nem sabe o que é. Água limpa nunca viu. Nem bebeu, não sabe do sem-gosto da água limpa: “água tem gosto de terra”.
A pouca água que por vezes cai do céu – de quando em vez São José abençoa, cai na terra e evapora. A que sobra vai pro raso açude barrento, pisado de gado magro, remexido de lata d’água e cuia de cabaça. É raso, mas não se vê o fundo, tem pouca água, quase nada, rasa e turva que nem vista cansada.
“Ouvi dizer que água era limpa, clara e cristalina que nem vidro de janela.” Nunca viu assim não, quando cai do céu é tão pouca que não junta, quando tá na terra mistura e ganha cor. Pra beber não presta não, mas se não beber não sobrevive.
Dizem que na cidade grande tem de tudo: trabalho, mar, moça pra casar – e água limpa. “Vou pra lá, minha mãezinha”. Juntou as tralhas, bem pouquinha, fez sinal pra carona no caminhão que vai pra cidade, lá bem longe. “Diz que lá tem muita água, tem até uma tal de inundação de tanta água que chove. Sei dizer o que é não, ninguém voltou de lá pra contar. Deve ser bom”.
Saltou da carona na cidade perto da estação central de trem. Falatório, correria, confusão. Nunca vira tanta gente junta, “parece até enxame de formiga carregadeira, meu Deus!” Largou no chão o bornal com as poucas tralhas que carregava de tonto que ficou. “Perdeu, mané!” Ouviu o grito e lá se foi a pouca bagagem que tinha, sumida dentre a multidão.
Sem a pouca bagagem, sem paradeiro pra onde ir, se deu conta do tamanho do problema que tinha naquele lugar desconhecido. Vagou sem saber pra onde ir, adormeceu na marquise acompanhado d’outros tantos como ele, sem pouso certo pra ficar. Puxou conversa, “onde tem água limpa por aqui? Rio que se vê peixe nadar, que se vê pedra no fundo?”
“Água até tem, logo depois no viaduto pra lá do sinal; já água limpa é ruim, hein. O rio daqui é o canal do mangue, quase dá pra andar por cima d’água; e nem precisa ser homem santo. Peixe? Tá de sacanagem, né.”
Foi lá pra conferir: corre uma vala de água cinza, fedorenta, grossa que gruda nas pedras. As pedras ficam ensebadas e nem se tivesse mil panos quase brancos, daqueles com que a parteira o limpou conseguiria descobrir a cor das pedras. Ouvira dizer que água era cristaliza, sem cheiro, sem cor. Sem gosto de nada, o que não entendia muito bem: “como pode ser boa se nem gosto tem.”
Escreveu carta pra mãe: “Não creia, que nem eu, que água é coisa limpa que nem céu sem nuvem, clara como vidro de janela – isso não existe! Deve ser fruto de contação de história de cigana. Água é cinza, sebenta, tem cheiro ruim, tentei até beber – vomitei. É ruim por demais. Acho que água boa só tem aquela que cai por aí de quando em vez, cada vez menos. Pelos menos se bebe.” A carta, guardou no bolso de trás da calça desbotada, não tinha dinheiro pra mandar. E se tivesse, ainda assim ele chegaria antes em casa. “Vou voltar pra casa na primeira carona de volta”, falou com seu pensamento – “daqui já vou rezando pra São José pra chuva de quando em vez cair no sertão. Água boa por aqui, cidade grande, não existe não.”
Uma noite, outra depois, mais uma também depois de cada dia de sol. No quarto dia o tempo fechou em nuvens cinzentas, clarão de raio e barulho de trovão lhe chamaram a atenção. “Hoje a chuva vem, vamos ver se é boa mesmo, se dá inundação. Vou tomar banho de água limpa, vou beber água limpa também.”
A chuva caiu forte, nunca vira tanta assim. De repente correria, tumulto, gritaria. Tinha mais barulho além do som de trovão: “corre!” “pega!” “para!” A correria foi seguida de barulho de tiros. A chuva caiu forte, as trovoadas aumentaram o volume, os clarões dos relâmpagos confundiam-se com os clarões das rajadas de balas do tiroteio.
“Tá chovendo, meu Deus!” gritou sem ser ouvido em meio ao tumulto na multidão. “Água limpa!” Nunca vira tanta, em tamanha quantidade. Estava tão extasiado com a profusão de pingos grossos na face lavada que nem deu importância para o baque forte no ventre – porrada ardida que doeu qual ferro em brasa. Hipnotizado pela água farta que nunca tinha visto, olhou em volta – de cima caía limpa, no chão, aos seus pés a água estava tingida de carmim – vermelho que nem pena de passarinho tiê.
Alvejado pela bala perdida morreu na poça d’água limpa com que sempre sonhara. Água ainda quase limpa, manchada com seu sangue…

Anderson Almeida Nogueira nasceu em Magé/RJ em 26/12/1966, é morador de Cachoeiras de Macacu/RJ. Autor independente tem seis livros publicados. Os estilos de suas publicações são variados, indo do cotidiano ao técnico; do biográfico à ficção, preferindo as modalidades de conto e crônica. Utiliza, além da escrita, fotografias de sua autoria e imagens de domínio público para ilustrar suas obras. É Presidente da Academia Cachoeirense de Letras desde 2018, onde ocupa a Cadeira de nº 18. Seu conto “Vazio” foi publicado na Revista Innombrable de Medellín, na Colômbia em 2020 com título em espanhol (Vacío). O poema “Rio” foi classificado em 2° lugar no Concurso Jardim Botânico 2023 em Coimbra, Portugal.