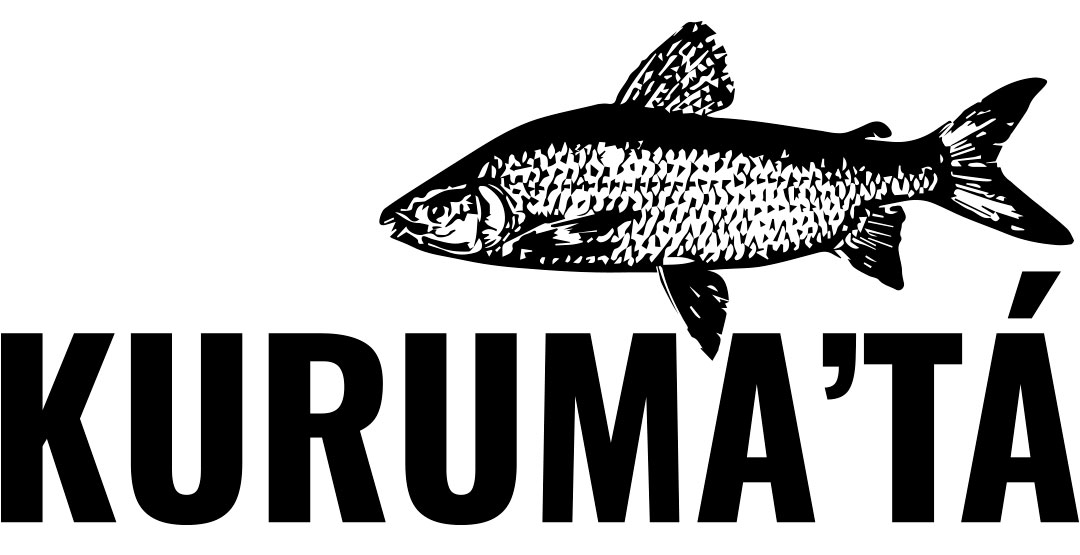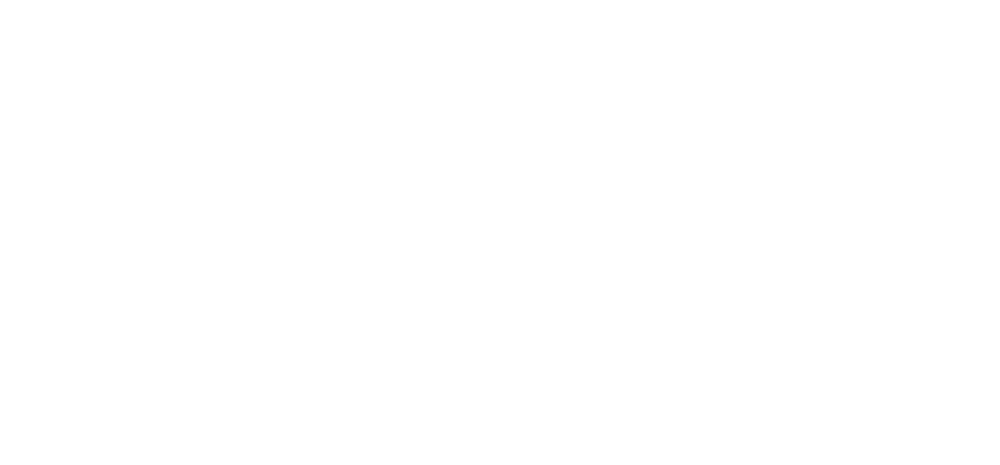A Revista Kuruma’tá ainda é pequena, e snem sabe ainda se quer ser grande, com todas as condições estranhas e obrigatórias de ser grande. A gente gosta de se enxergar como uma aventura e não como uma produção, um projeto ou uma dessa palavras que são usadas pára dizer que algo é um empreendimento sério.
Mas com esse trabalho miúdo, de formiguinha, como se diz, a Kuruma’tá vai cegando aqui e ali. E a gente sabe disso quando, do nada, chega-nos uma mensagem de alguém, dizendo assim: tenho uns textos para publicar. O que acham de dar uma olhada?! Ah, a gente acha ótimo dar uma olhada, ler e se empolgar. E foi assim que nos chegaram os textos lindos do Diego Franco Gonçales. Out of the blue, dizem os americanos.
Diego é lá de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. É professor de comunicação, revisor de texto e instrutor de krav-maga. E escreve… escreve bem que só. Seus textos me lembram um amigo querido lá do recife, que escrevia com essa liberdade, esse frescor de palavras. Diego é muito inventivo e muito bem-vindo à Kuruma’tá! A gente publica esse conto, Zerinho, com muita alegria.
Toinho Castro (Editor)
Texto de Diego Franco Gonçales

Foi aos 11 anos que Thi descobriu ser o laser a sua solução.
Diguin apareceu no recreio com aquele objeto ilógico: do tamanho e espessura de um toco de lápis, feito de um plástico vagabundo, com um botãozinho que a cada pressão fazia um crec duvidoso, mas que soltava um feixe de luz verde, concentrada, irreal. O habitat de Diguin – uma roda à sua volta – brotou nem mal ele anunciara a novidade. Seus pais eram os donos da única loja de quinquilharias importadas de toda aquela região, e nos recreios, magnânimo que só, ele concedia a quem pedisse um breve contato com suas maravilhas. Essas ocasiões davam em Thi vontade de colocar tachinhas na cadeira do colega, mas ele não conseguia deixar de fazer parte da plateia.
Que tempo crédulo. Um menino particularmente suscetível entrou em pânico quando o laser – acionado pela menina que, cochichava-se, tinha beijado Diguin – projetou-se do teto do pátio para seu peito. Os demais caçoaram dele enquanto disfarçavam um passo para trás. Ninguém ficou lá muito convencido com o argumento de que não havia perigo: todos viam na TV do que um laser era capaz.
— De verdade, não serve pra muita coisa. — o dono do laser insistiu. — O que de mais legal eu fiz até agora foi desligar a luz de um poste da minha rua.
Desligar, luz, poste: não teve jeito, Thi precisaria conversar com Diguin.
***
Uns dias antes, Thi aprendera que planejar é uma má opção.
A ideia era quebrar a pedradas a lâmpada de um poste que ficava bem na metade do Largão, ladeira próxima a sua casa à qual confluía toda tardinha uma turma de meninos e meninas, ele incluso. Entre conversas e disputas, ali descobriam modos de dar vazão à repentina atividade de suas gônadas, e desde uns tempos corridas de carrinho de rolimã eram a preferência. Thi munir-se de um punhado de pedras para subir o Largão não deixava de ser uma participação nessa busca coletiva — mas fazê-lo sozinho era o seu modo particular. Ninguém saberia.
Ele nunca tinha reparado como um poste podia ser alto, e nem levara em conta a carapaça vítrea que protegia aquelas antigas lâmpadas de vapor de sódio. Até ali, parecia suficiente ter programado duas providências: escolher um ângulo que evitasse acidentes com as janelas das casas e assobiar despreocupado se algum carro ou pedestre porventura passasse. E agora?
Thi tremia um pouco. Respirar era difícil e gostoso ao mesmo tempo. Demorou muito mais do que ele planejara, mas, à custa de quase todo seu arsenal, ele enfim quebrou a proteção da lâmpada. Thi agora inspirou tanto ar de uma só vez que precisou sentar-se no meio-fio. Ficou por ali, desprevenido, olhando os cacos de vidro e já se enxergando sobre o carrinho de rolimã num Largão vitoriosamente escuro, a turma em algazarra e um par de olhos, em especial, pregado nele; e foi por ali que a Portuguesa, moradora da ladeira especialista em doces e disciplina, o pegou pela orelha e o plano descambou. Todos saberiam.
— Tão quietinho… Vandalismo! De onde veio isso? Meu menino tá mudando tanto… — no fim daquele dia a mãe de Thi conversava com o teto, deitada na cama ao lado do pai que só queria dormir.
***
Escaldado, Thi esforçava-se em não pensar sobre como faria a abordagem.
Mas Diguin sentar-se à primeira fila o atrapalhava. Thi era obrigado a olhar para as costas do colega enquanto copiava da lousa a lição de casa de Ciências. “Explique, com suas palavras, a diferença entre geocentrismo e heliocentrismo” misturava-se a “Então, Rodrigo. Não. Diguin. Então, Diguin.”; “Faça um texto sobre os experimentos de Galileu. (20 linhas)” a “Me empresta o laser? Não. Eu posso ver o laser?”; “Abóboda celeste” a “Você se acha. Me dá essa merda.” A caneta fazia sulcos fundíssimos no caderno.
O sinal da saída convenceu Thi de que o melhor mesmo era deixar o laser de lado. Bobagem enorme, afinal, aquela em que ele vinha pensando. Usar a escuridão para se exibir? E para quem nem parece saber direito que ele existe? Pior ainda: tramar tudo isso e atrair sobre si sabe-se lá que maus espíritos e azares? Thi guardou seus materiais na mochila se sentindo aliviado, sensato e um pouco cinza, e o zíper fechando soou como um bom fim de sua infância.
Ele ainda tinha essa decisão na cabeça quando, já na calçada da escola, passou por um grupo formado por Diguin e três amigos. Thi assustou-se ao ver escapulir de dentro dele a pergunta “Como apaga poste?” numa voz que foi pouco menos que um grito. O grupo todo ficou sem saber muito bem como reagir à aparição estrondosa de Thi, e o pipoqueiro se pôs em prontidão para apartar os moleques caso aquilo evoluísse para uma briga. Thi apressou-se em lembrar da conversa do recreio — o laser não servia para apagar poste? O desconcerto virou curiosidade, e Diguin respondeu tirando o laser do bolso e o apontando na direção do poste. Um ponto verde, minúsculo e vivo, tremelicou numa caixinha preta presa perto da lâmpada. Era simples: quando escurecesse, tinha que mirar bem ali e apertar por um tempinho o botão do laser.
— Deixa eu ver. — Thi pegou o laser. Levíssimo. A esfera na ponta dele era feita de futuro. — Te trago segunda? Eu preciso dele.
Thi já ia longe, segurando-se para não correr ou chorar no caminho de casa, quando Diguin — que havia assentido com o empréstimo — discutia com os amigos se era Thiago ou Thiérri o nome daquele bicho caladão e estranhamente persuasivo.
Quando a lâmpada apagou, os gritos da turma foram um misto de vaia e comemoração.
Ninguém percebera o responsável, mas a gritaria trouxe a Portuguesa à janela, e ela ali coçando a cara foi um lembrete a Thi de que tudo estar como o planejado era um sinal de perigo. Muito cuidado com os próximos passos: não se podia pensar neles.
Thi arrastou seu carrinho até o alto do Largão sem acompanhar a tagarelagem dos demais competidores — ocupava-se em esvaziar a cabeça. Dali ele via a sua cria: a faixa sem iluminação no meio do percurso da corrida. As regras daquela semana determinavam ser lá o local onde os competidores precisavam dar um zerinho: um cavalo-de-pau com o carrinho de rolimã, criando o máximo possível de faíscas com o atrito entre asfalto e o metal das rodinhas. Chegar mais rápido no fim da corrida era menos importante do que dar um bom zerinho, e as meninas e meninos do resto da turma, responsáveis pela aferição dessa qualidade, ficavam também perto do poste agora desligado. Vendo-os lá de cima, Thi saía-se mais ou menos bem em não pensar, não planejar. Conseguia evitar a imagem — meticulosamente construída e lustrada até o incidente das pedradas — de si mesmo ressaltando suas faíscas com a escuridão, mas não era capaz de impedir o surgimento de uma pergunta — ela vai olhar pra mim? — e de um desejo — ela vai olhar pra mim.
Um, dois, três, já. A gravidade e a metalurgia fizeram seu papel. Tamanho era o declive do Largão e a eficiência dos rolamentos que os carrinhos atingiram máxima velocidade pouco depois de dada a largada. E então ficou fácil não pensar.