Texto de Toinho Castro
Eu devia ter meus doze anos de idade. Vai saber! Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas já gostava de ficção científica, seja por causa dos filmes e séries, talvez por pertencer à primeira geração nascida após o ser humano deixar sua primeira pegada na lua.

Tia Nadir era uma tia da minha mãe, irmã da minha avó, a quem eu e meus irmãos havíamos acostumado a chamar também de tia. Minha recordação é de uma pessoa doce, carinhosa, a quem víamos bastante. Morando no Recife, longe de sua querida Natal, minha mãe tinha em tia Nadir a família mais próxima, mais imediata, e a visitávamos com agradável frequência, em sua casa na Vila Tamandaré.
Apresentados esses dois fatos, vou juntá-los num episódio de infância que me marcou imensamente. Na verdade, mais que um episódio, uma frase. Estávamos na casa de tia Nadir, num dia de sol recifense, plantas pelo jardim e algumas flores. Havia o alarido dos adultos e suas conversas importantes, fofocas familiares, novidades e as miudezas do dia a dia alinhadas, afiadas e distribuídas de modo a fazer a conversa render toda uma tarde. Eu me reservava, sempre calado, ao meu canto de menino, desinteressado dos mais velhos, daquele mundo da família, seus problemas, alegrias e convenções.
Nas minhas mãos a raiz da minha distração absorta, um exemplar de 2001 – Uma odisseia no espaço, de Arthur C. Clarke. O livro desafiava os limites do meu entendimento das coisas, mas já naquele tempo eu tinha essa percepção, de que entender é um luxo ao qual, muitas vezes, não podemos nos dar. Ao aceitava, ao ler certos livros, um prazer que não vinha da compreensão, mas de outras áreas da vida. Talvez como o prazer de uma viagem, as impressões físicas, sensoriais do deslocamento de um carro, de um avião, de uma nave espacial.
Tia Nadir, no vai e vem de buscar água ou uma velha foto para alimentar alguma troca de recordações, passou por mim e viu que eu estava lendo. Focou no meu livro aberto e o tomou delicadamente das minhas mãos, virando algumas páginas e lendo o título silenciosamente. Depois de devolver-me o livro sentenciou:
— Eu também vivi uma odisseia!
A partir daí começou a narrar uma longa e aventurosa viagem de ônibus, nos tempos em que viagens de ônibus eram aventuras, odisseias. Quando atravessar os estados brasileiros era uma imensa noite estrada adentro, pequenos vilarejos, cidades esparsas, precariedades e o vento atravessando as janelas abertas dos ônibus, por dias. Não recordo os detalhes, nem mesmo o destino. São Paulo, talvez. Mas lembro a vívida sensação de acompanhá-la pelo Brasil naqueles minutos que ela dedicou a me contar sua história. Sua odisseia.

Agora mesmo, enquanto escrevo, me vem à mente a imagem do meu pai, num caminhão, cruzando fronteiras estaduais, o mesmo velho vento no rosto, nomeando e bebendo seu café em cidade inomináveis para mim, então uma criança com conhecimento limitado do tamanho do Brasil. Um inconcebível e velho Ulisses, nessa visão por certo romantizada de um pai tentando ganhar seu dinheiro e contar suas histórias. Que cantos de seria escutou enquanto as cargas brasileiras sacolejavam na carroceria de algum caminhão perdido no crepúsculo entre o Piauí e o Maranhão, rumo à cidade de Imperatriz, certamente.
Minha mãe aventureira também, com a avó, que arrastava as netas preferidas, de trem, no trilhos entre Natal e Recife. Suas memórias de quando choveu horrores e só via da janela do trem as pontas dos pés de cana nos canaviais que se perdiam até o horizonte. Mar de canas, mar de chuvas. O rio extrapolando o próprio leito e cobrindo os trilhos. À frente do trem, um rapaz com uma longa vara, tateando a escuridão das águas para checar se a viagem poderia continuar a cada metro viajado, enquanto a chuva caía.
Odisseias são essas jornadas de transformação interior e que testemunham o mundo em transformação. Tia Nadir, meu pai, minha mãe… o Brasil quase inteiro descortinado da janela de um ônibus, um caminhão, um trem. Da janela de um hotel em Tucuruí, de onde se vê a vida que se leva.
Cantem as sereias, quebrem sobre o convés as ondas do mar dos canaviais. Estamos amarrados ao mastro, para poder, ao fim, contar a história.


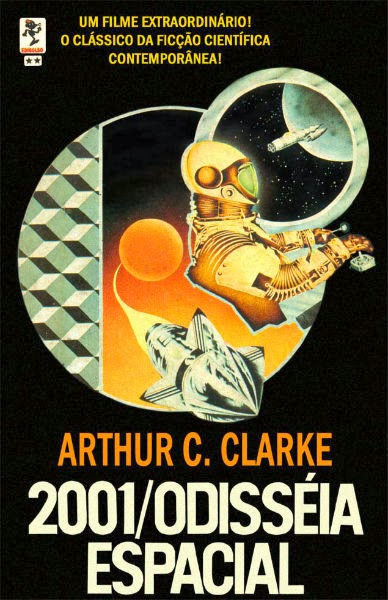


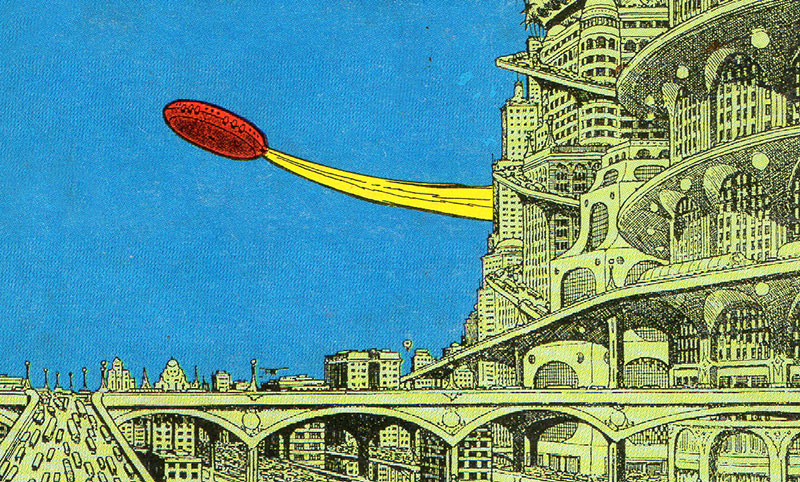


Que belo texto. Odisséias são eternas memórias afetuosas.