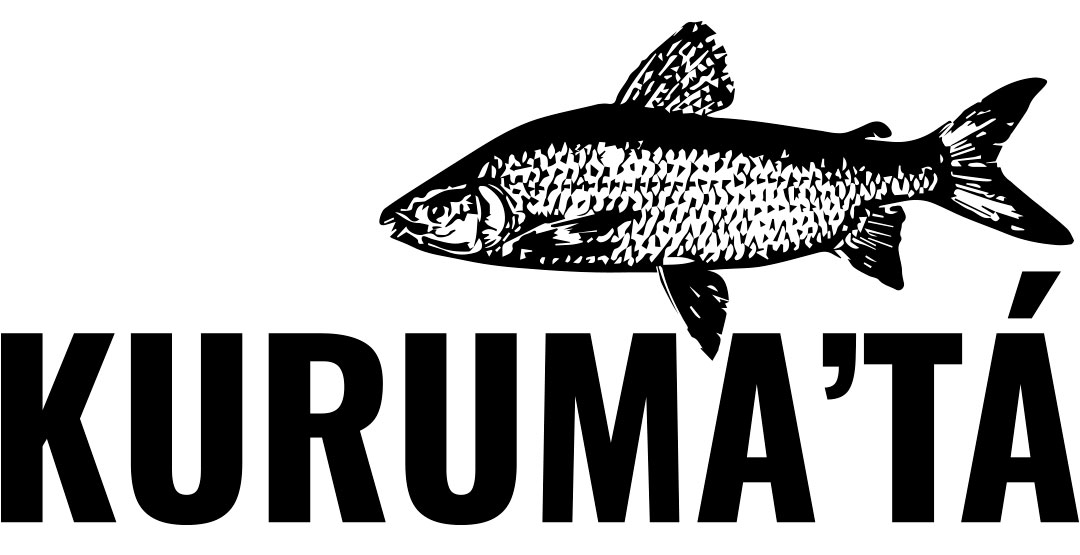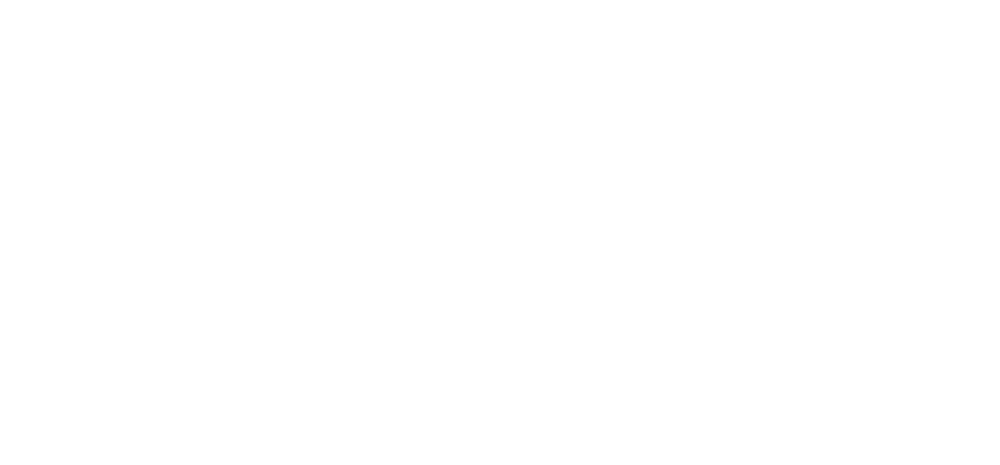Texto de Diego Franco Gonçales

Na rua, pais ainda se aglomeravam em frente à escola, as últimas crianças se despedindo sob mochilas azul-marinho medindo metade delas. No pátio, as séries primárias começando a formar filas, a poucos minutos de seguir cada uma para sua sala, sua professora e seus cadernos encapados. Era o início de um dia escolar, e os alunos, bem-dormidos e dispostos, decoravam o ar com um mosaico sonoro nada preguiçoso. Mas para um grito daquele, eletrizando a manhã que ficaria marcada como a em que elegeram Daniel rei, era cedo demais.
Som assim, o rasante de uma estridência coesa, só era registrado em recreios, e dos mais problemáticos. O inspetor sabia disso, e quando deixou seu posto de organizador de começo de dia foi para assumir o de convicto disciplinador de momentos críticos. Algumas crianças correram, abandonando filas e rodas de conversa e brincadeira; o inspetor leu nelas a direção a ser seguida. Meticuloso, engrenou sua progressão de emergência, rápida o suficiente para alcançar algumas das crianças e paralisá-las com um toque no ombro e um estralar de língua, mas não o bastante para ser considerada uma carreira aberta. Seco e determinado como seu bigode fino, um praticante de marcha atlética em trajes sociais, foi estancando alunos até aquela curva à esquerda, bem no final do pátio, onde começa o corredor que dá no parquinho. Ali, quatro merendeiras amontoavam as cabeças na janela da cozinha em um dégradé de expressões: curiosidade alegre, interesse apreensivo, aflição contida e temor sofrido, e para elas o inspetor exibiu a palma da mão em um misto de “fica aí” com “deixa comigo”.
A mesma mão subiu à testa na forma de viseira assim que ele deixou a cobertura do pátio. O sol daquele novembro, as pessoas não esquecem, esbanjava potência já antes das oito da manhã. Enquanto seus olhos, acostumados ao esmaecido do pátio, tentavam se adequar à luminosidade, o inspetor apenas distinguia, e mal, o tatuzão, a casa na árvore, o escorregador, brinquedos de maior volume, e um contra-fluxo de crianças, algumas chorando, e bem. Era a medida que ele precisava para elaborar, baseado em experiências regressas, uma intuição do que estaria acontecendo e até a causa. Lezinho, pensou, e agora ele correu.
(Seus muitos anos de experiência profissional concorrem com os poucos junto ao Lezinho para firmar a lógica da sua dedução. Nisso, o inspetor é irrepreensível, e mais à frente esse foi o argumento da sua defesa – argumento que, embora não o tenha salvo da exoneração, foi aceito para livrá-lo de um processo criminal.)
Havia até meninas andando de costas, perplexas com a mão na boca, quando o inspetor chegou ao que parecia ser o epicentro da ocorrência – um círculo de crianças posicionado embaixo da casa na árvore, pequena cabana de madeira a uns dois metros e meio de altura, construída sobre o tronco de um flamboyant morto há muitos anos. Dá licença, dá licença, e no centro do círculo, barriga para o chão, braços e pernas tortos como os desenhos de assassinados feitos com giz em filme policiais, desacordado na melhor hipótese, Vítor.
O inspetor pouco podia fazer por Vítor além de conferir respiração e batimento cardíaco. Respirava e batia. Seu curso de primeiros socorros doutrinava a não remoção de vítimas de traumas, desacordadas ou não, e doutrina é coisa séria. O inspetor olhou por ali e detestou o que viu. Só crianças, ninguém da equipe. O apito negro era seu único recurso.
A professora de artes foi a primeira a acorrer ao chamado ardido do apito do inspetor. Sua sala é a mais próxima do parquinho, proximidade conquistada no começo daquele ano quando ela venceu o professor de educação física, seu principal concorrente na disputa pela sala bem-localizada, distribuindo aos demais professores cópias mimeografadas do seu texto “Indução da criatividade lógico-espacial-estética no 1º grau: uma defesa heurístico-paisagística do uso da sala 7 pela disciplina de Educação Artística” – todos na Reunião de Planejamento Anual/1992 da “E.E.P.S.G. Sandra Souza Suzuki” houveram por bem concordar com ela tão rápido quanto possível para matar no berço o demônio que ameaçava prolongar aquele encontro. Ela armava uma roda de carteiras para uma aula sobre cores quando ouviu a primeira sequência de silvos picados. Imaginou um proibidíssimo futebol de bola de papel sendo dispersado pelo inspetor e continuou seu trabalho, mas mais e mais sequências de apitos a levaram até a janela. O inspetor, de pé, tinha um braço para baixo, apontando uma criança caída de bruços, e o outro para cima, balançando nervoso.
— Aiaiai, quem é essa crian… ô, meu Deus, é o Vítor! – a professora disse conforme corria, a interjeição ainda na saída do prédio e o nome da criança já ao lado do inspetor.
— Professora, a senhora pode, por favor, ficar aqui enquanto eu vou à secretaria telefonar pra uma ambulância? – E, falando para as crianças, o inspetor arqueou as sobrancelhas – Vocês, comigo.
À exceção de uma menina da 4ª série, as crianças imediatamente se ajuntaram ao redor do inspetor. Para ela, o inspetor arqueou também o bigode e repetiu:
— Co-migo.
Ainda assim, ela não se moveu. Vítor estava acordando, e para a menina aquela cena conseguia ser mais premente que as sobrancelhas, o bigode e as sílabas tensionadas do inspetor.
O inspetor chegou a esboçar uma contenção, mas o menino já tinha se virado sobre a lateral e espalmado a mão no chão para se levantar. Mas uma fratura de Colles no rádio direito, como mais tarde anunciaria para a diretora da escola o ortopedista do pronto-socorro, o impediu: numa manifestação exuberante da elasticidade da pele humana, o peso do corpo fez a mão de Vítor se desencaixar, indo parar na metade do braço. Ele gritou mais um daqueles gritos elétricos, rolou até ficar de costas no chão, e, com a mão quebrada pendendo como uma bandeira a meio-mastro, esgoelou com toda a saúde de um pulmão de dez anos:
– Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer!