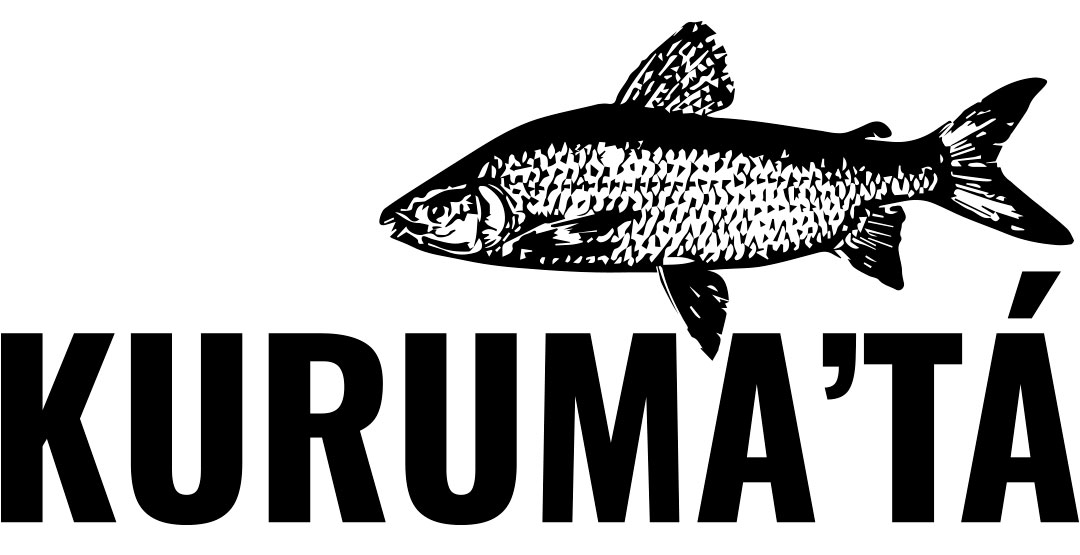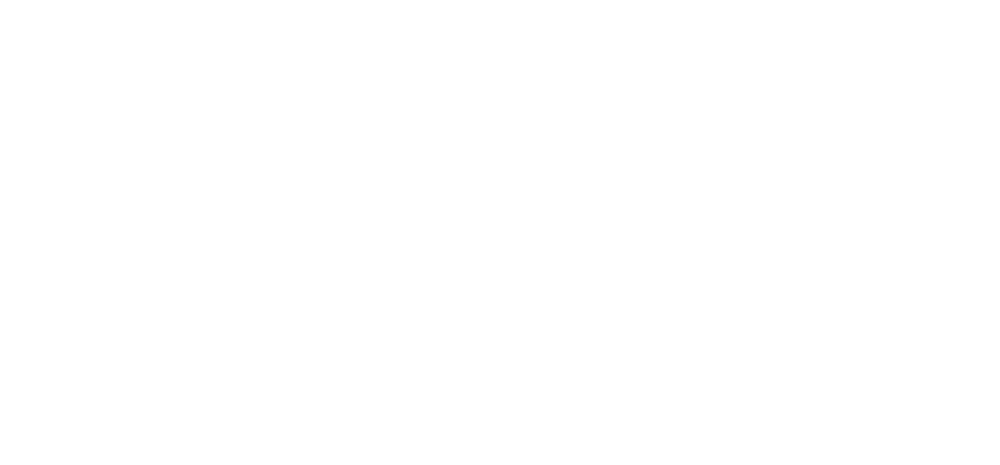Texto de Diego Franco Gonçales

Lezinho já havia parado de chorar, mas seu rosto ainda era uma bagunça vermelha. Rir de fato não era a melhor das reações que ele poderia ter tido ao ver passar Vítor carregado em uma maca, disso ele meio que tinha ciência, mas uma risada merecia aquele puxão de orelha da professora de artes? Do fogo no lixo do pátio à bombinha na privada do banheiro; das intimidações de colegas de sala à falsificação da assinatura da mãe; dos “merda” e “cu” no recreio às fugas pulando o muro – tudo lhe parecia mais grave que agora e nunca, nunca acarretou encostarem a mão nele. Isso era coisa de se esperar de casa, da rua, não da escola, e por isso, de raiva, ele chorou.
Ao seu lado, o inspetor penteando compulsivamente para trás os cabelos; à sua frente, mas de costas, a professora de artes engolindo um copo de água com açúcar. A sala da direção era um cômodo pelado: uma mesa com papéis da diretora (cujo expediente começava depois do almoço), duas cadeiras onde alunos encrencados sentavam-se ao lado de mães envergonhadas ou, raramente, de pais desnorteados, um sofá de canto e nada mais. O cheiro das bitucas de Palace provindas dos dois maços diários da diretora era a única decoração por ali.
– Você, você passou todos os limites, rapazinho. Todos todos todos, Leandro! – a professora falou ainda de costas, mal terminado o copo, para surpresa do inspetor e do menino. Nem a água com açúcar a acalmou? – Quebrou o braço! Do Vítor!
— Eu!?
— Você!
— Eu seu c… – e Lezinho intuiu que de que nada adiantou ter suprimido o “u”, porque só com o “c” a palavra inteira já imperava por toda a sala de direção, mais forte que o cheiro de cigarro apagado, agulhando os ouvidos da professora e do inspetor.
— O quê!? Você vai ser expulso, seu seu seu… animalzinho! – E a professora abaixou, tirou um sapato e avançou com intenção predadora, mas mancando um pouco porque a ausência de um scarpin deixou uma perna mais comprida que a outra. Ela sentiu ser um pouco ridícula a cena, e por isso parou no meio do caminho soltando um ruído de bexiga esvaziando – Não é possível…
— Leandro, olha pra mim. – o inspetor comandou – Eu quero saber como tudo isso aconteceu.
— Com ela aqui eu não conto.
— Ah, pronto! – e agora a professora não se importou em mancar e partiu para cima de Lezinho. O menino fez a expressão mais corajosa que conseguia e ficou firme, nem piscar piscou. Só não tomou uma sapatada porque o braço da professora foi interceptado pelo inspetor.
— Professora, a senhora precisa se acalmar. Por favor, tome um ar no pátio. Por favor – o inspetor gesticulou em direção à porta.
A professora de artes fechou os olhos e inspirou quanto ar lhe foi possível. Seus permanentes muito negros e muito compridos tremelicaram.
– Ok. – ela disse. Abriu a porta para sair e deu com crianças, professores e funcionários da escola no calor da fofoca. A professora de artes passou por entre eles expirando forte e tremendo os cabelos.
– Com licença. – o inspetor fechou a porta – E agora, o senhor está satisfeito? Mais alguma exigência, Leandro?
A ironia não mereceu resposta do menino, mas o atingiu. Por algum motivo, ele não conseguia manter para o inspetor a expressão corajosa e a impassibilidade do corpo que ostentou frente à professora de artes. Ajeitar as nádegas milímetros para o lado foi tudo o que Lezinho fez como expressão do seu desconforto, mas isso não escapou ao inspetor.
— Vejo que mais nenhuma mesmo.
— Ela não pode me bater.
— Ela não te bateu.
— Ela me puxou pela orelha.
— Puxar a orelha não é bater. Bater é o que você fez. Você quebrou o braço do Vítor.
— Eu!?
— Vo-cê quebrou o braço do Vítor.
— Eu não!
Lezinho sente orgulho de suas “reinações” – assim chamava o inspetor as rebeldias e provocações ao menos quinzenais do aluno problemático, e assim ele acreditava, pelo nenhum esforço de disfarce ou negação a que o menino se digna quando pego. Ele tenta, sim, não ser descoberto quando apronta, mas por engenhoso que seja, por aluno inteligente que sempre tenha sido, ileso de recuperações em qualquer matéria, que dirá repetições de ano, Lezinho é, ao cabo, um menino de 10 anos a serem completados dali pouco menos de um mês, naquele dezembro de 1992, e seu arsenal de dissimulações é reduzido e de calibre infantil. Pego, a tradição é Lezinho fazer correr um fogoso “É, fui eu!” por entre sua dentição ainda em parte decídua minutos depois de ser posto naquele sofá. Negar três vezes a participação no acidente daquela manhã chamou a atenção do inspetor. Ele foi até a janela que dava para a rua, àquela hora livre de carros e pessoas. E aí? Pelo retrospecto, era igualmente defensável confiar e desconfiar de Lezinho. O inspetor passou um tempo olhando os decrépitos cobogós sessentistas do muro da casa de frente à escola, que ruíam dia a dia.
– Mas riu. Ou não, também? Me diga por que riu, então. Achou engraçado? Achou bonito?
– A tia Mara riu também.
– A Mara… a Dona Mara… O que tem a ver a Dona Mara? Ela já aprontou tudo o que você aprontou, Leandro? Deixe ela de fora. Isso se ela riu mesmo. Eu acho que você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo, Leandro?
– Eu só achei engraçado ele gritando. Não sabia que o braço dele quebrou.
– O braço dele que-brou? – E o inspetor saiu da janela, o muro em ruínas e a mão quebrada de Vítor virando uma coisa só – Eu não sabia que braços quebram, Leandro. Eu achava que braços eram quebrados. Como o senhor me explica isso?
– Eu preciso ir pra aula.
– É? Precisa?
O inspetor foi até a porta e virou o trinco.
– Você vai pra aula quando me falar o que aconteceu naquele parquinho. Você vai falar e é agora.
O inspetor se aproximou do sofá. Seus passos até Lezinho foram calmos, em paz, flutuantes até. Aquela suavidade inusual amedrontou a criança, acostumada à rispidez e secura do inspetor. Ele próprio se surpreendeu, sentindo-se descolado do corpo, um mero observador, um proprietário minimamente envolvido de uma máquina autônoma e decidida no nível mais profundo de suas roldanas.
O inspetor sentou ao lado do menino e tomou sua mão; a disparidade entre as mãos do inspetor e do menino, uma jovem, mínima, de unhas um pouco encardidas, enfiada na palma de uma enorme, alva mas com sulcos da cor de colostro, os fez parecer animais de espécies diferentes. O inspetor pousou ainda a outra mão por cima da de Lezinho. Pelos pretos que pareciam encerados cobriam todas as falanges. A pele gelada do inspetor arrepiou o braço de Lezinho.
— De novo: o que deu em você, filho, pra fazer isso com o Vítor?
— Tio, me deixa ir pra aula…
O que parecia mais um desvio choroso e falso de Lezinho foi uma senha para o inspetor libertar a vontade há muito pronta, há muito reprimida. Sua mão que estava por cima pescou com precisão o indicador do menino e o torceu no sentido contrário do fechamento dos dedos. Rápido, limpo, eficaz. Só a flexibilidade infantil salvou aquele osso de se partir.
Então esse dia chegou. Como seria machucar uma criança? A fantasia de que esse dia chegaria avançava sobre os pensamentos do instrutor sempre que a paciência dele era pouca e as reinações eram muitas; povoava a cabeça dele na hora do sono e preenchia o espaço entre os parágrafos de notinhas sobre etiqueta de revistas Seleções que ele lia enquanto a porteira Mara, sua namorada secreta (porque relações entre funcionários eram proibidas pela escola), preparava o almoço dos finais de semana; essa fantasia um pouco assombrava e um pouco temperava as tentativas de desconexão com o trabalho de inspetoria. Como seria machucar uma criança? Ele gostava de se afirmar como um inspetor à moda antiga, e não raro externava para colegas uma saudade caricata de palmatórias e reguadas, mas aquilo para ele nunca foi machucar. Castigar um aluno batendo em suas mãos ou nádegas com instrumentos oficiais, quando isso ainda era aceitável, equivalia a ensinar aritmética, decorar nomes de capitais, preencher cadernos de caligrafia: era do jogo. Ele queria mesmo saber como era sair do jogo. O que a criança precisaria fazer? Qual método ele usaria? Que sabores residuais ficariam em sua boca? Como seria machucar uma criança? Agora ele sabia. Não era bom.