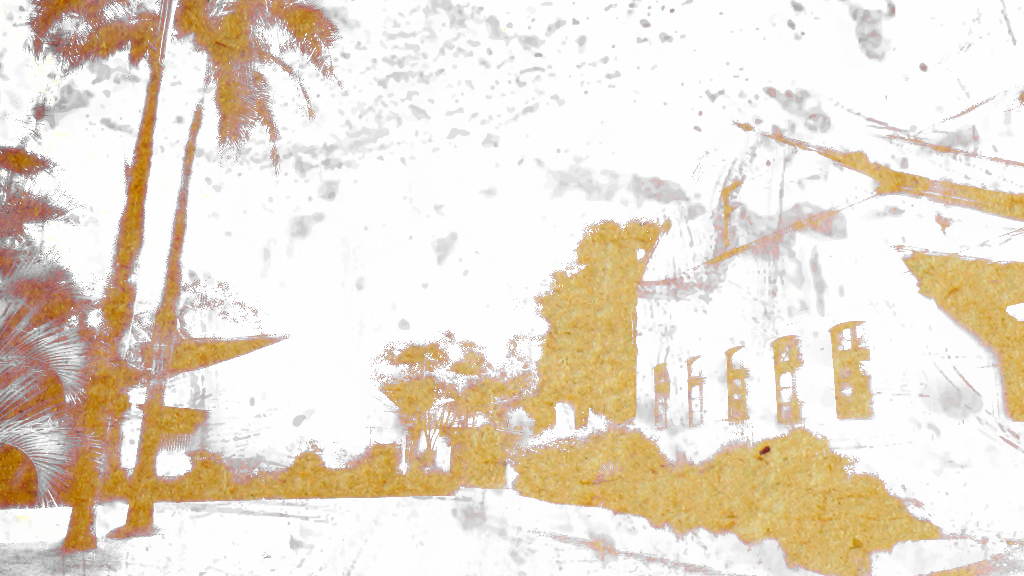— Sobre a primeira semana do Festival e Laboratório de Artes Performativas Linha de Fuga 2020
Texto de Alexandre Gigas
Passou a primeira semana, em Coimbra, do Festival e Laboratório Internacional de Artes Performativas Linha de Fuga. Nela, desdobrei-me em várias personagens, numa linha de fuga esquizofrénica; o assistente de produção, o crítico de fuga que observa e escreve, o artista que de forma fugaz participa de exercícios colectivos das oficinas e, por fim, o poeta que observa e foge de todas essas personagens para voltar a si. Assim, este poeta que vos escreve, não falará de nenhuma particularidade artística do festival até ao momento, mas num todo caótico, que procurará ordenar.
A curadora do evento, Catarina Saraiva, promove a discussão sobre a Democracia, ou a importância do anonimato na democracia. Este é um lugar para essa discussão, nascendo na polifonia de línguas dos artistas participantes e das geografias de onde provêm. A discussão dá-se entre reuniões onde se buscam acordos, assembleias deliberativas e plenários efémeros, com que esta comunidade artística se relaciona entre si e com a cidade que a acolhe. Parece-me que é sempre assim, em todos os momentos do nosso quotidiano, mas não será. Na deambulação pelas ruas, penso que a maioria dos indivíduos que aqui habita continuará alheado do evento e da discussão que ele promove. Apesar de todos termos de procurar o lugar de diálogo com o mundo que nos rodeia, somos vítimas da ditadura capitalista do tempo, a pressa imposta pela necessidade de sobrevivência. Esta, mais do que tudo, retira-nos a capacidade de escuta e de diálogo, tornando-nos ditadores da nossa própria vida e dos que nos rodeiam. Cada vez mais raro, no mundo urbano, o alcance da respiração pausada das tarefas primordiais, ou dos cantos que embalavam a lavoura, ou do cuidado do gesto repetido como um mantra ditado pelas mãos.
Eventualmente, o evento conquistará alguém distraído da ditadura, através de estratégias de comunicação que me fazem imaginar uma pessoa na tona da água, a fazer um esforço hercúleo para flutuar, gritando “Venham! A cultura é segura!”. A Cultura é segura, como o tempo de escuta e diálogo são seguros. A democracia é de todos e é manifesta em curiosidade sobre o outro e afecto para o outro. As pessoas são muito importantes, pois esta discussão da democracia pela arte, propõe afectos. Aliás, os afectos estão subjacentes às propostas artísticas, às ligações entre os artistas, a equipa de produção, as pessoas que são público, ou vizinhos, ainda que temporários. Os afectos são maiores pontos de escuta do outro, de se colocar o mais possível no lugar do outro, na linguagem e pensamento do outro, na vontade de erguer o futuro com o outro. Pelo meio poderá vir a nossa opinião, como elo de ligação, como forma de resistência ou como atitude cívica ou afirmação de activismo. Seja como for, será o afecto que conduzirá essa consciência de nós para a construção em conjunto e só ele permitirá que esse edifício social não se torne efemeramente em ruína. Esse labor da construção é permanente, até quando dormimos e sonhamos.
O meu sonho, no que a este evento concerne, prende-se com a busca pelo lugar de dança (ainda que a uma distância de segurança). A dança espontânea entre pessoas num mesmo espaço, na sua observação uns dos outros, dos seus movimentos e dos seus olhares, é um dos afectos que a ditadura pandémica nos está a retirar. Assisti no evento a três momentos de dança. O primeiro no âmbito de uma oficina, em que a minha estranheza a ver pessoas dançando, distantes entre si, com máscaras que lhes cobriam metade da face, me alertou para tudo o que estamos perdendo. O segundo e terceiros momentos fora do festival, onde pessoas procuraram esse lugar de dança em sítios isolados, que lhes permitiram desenvolver esse acto ilegal e subversivo que combate o medo.
Já o medo não se vê nos múltiplos pormenores que a cidade oferece; seja na intermitência e cruzamento de formigueiro adormecido dos transeuntes, que inventam um novo quotidiano; seja na mudez dos espaços fechados; seja nas ausência de tudo o que não está e se suspende na dúvida se voltará a existir. O medo sente-se nas palavras oficiais das instituições, na aleatoriedade das regras com que elas tecem uma teia invisível. A aranha institucional tece-nos fomentando em nós atitudes mesquinhas e individualistas, por vezes narcísicas de algumas pessoas sós. Encontro homens de braços caídos, com olhares de quem procura a sua mãe, tentando não olhar as mudanças que se operam e que os não privilegiam mais. Homens de braços caídos desenhando as ruas, de cabeça erguida para os pedestais, onde homens de braços caídos e sós choram arrogância com grunhidos e trazem no olhar o último estertor do capitalismo cultural que os alimenta.
Vejo também mulheres construindo fortificações sem pedras, onde todos cabem e todos são chamados a construir (Uma trabalheira isto de construir!). Castelos de nuvens onde, mais que medo, se respira cuidado e atenção pelo próximo. Penso há uns meses que me encontro num jardim morto, onde ainda assim brotam flores. Estas flores são polinizadas pelos afectos, em actos e palavras; as flores são poesia e a sua existência, neste canteiro efémero, é Arte.
O que se constrói, nos plenários laboratoriais em que testamos a democracia directa, pode não vencer e o nosso futuro ser uma “nuvem de hidrogénio assexuado” promovida pelo ódio nacionalista ou a morte pelo amor aos objectos, que é o amor pela nossa história. Podemos todos morrer de História. A estrada é longa e larga.