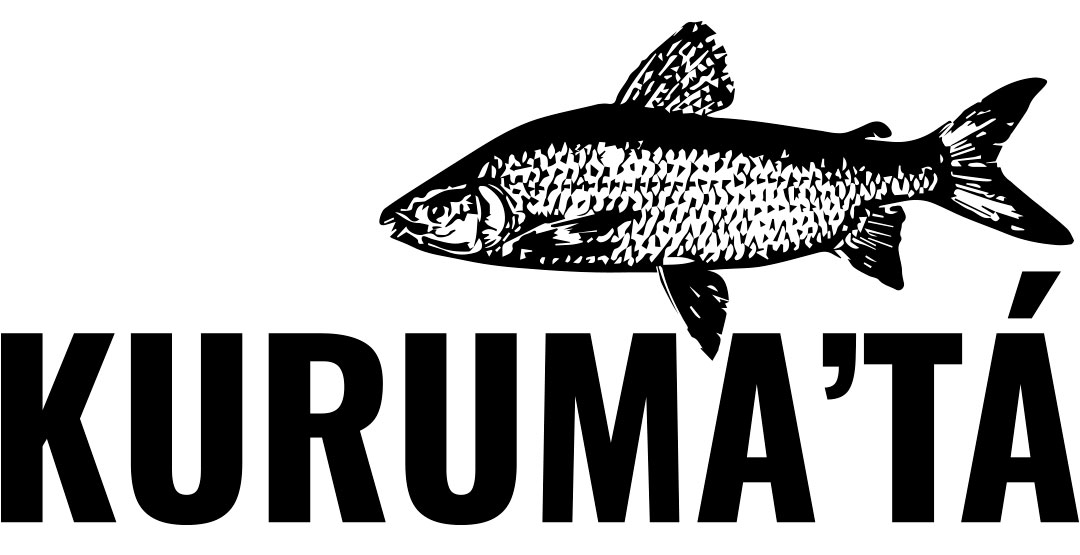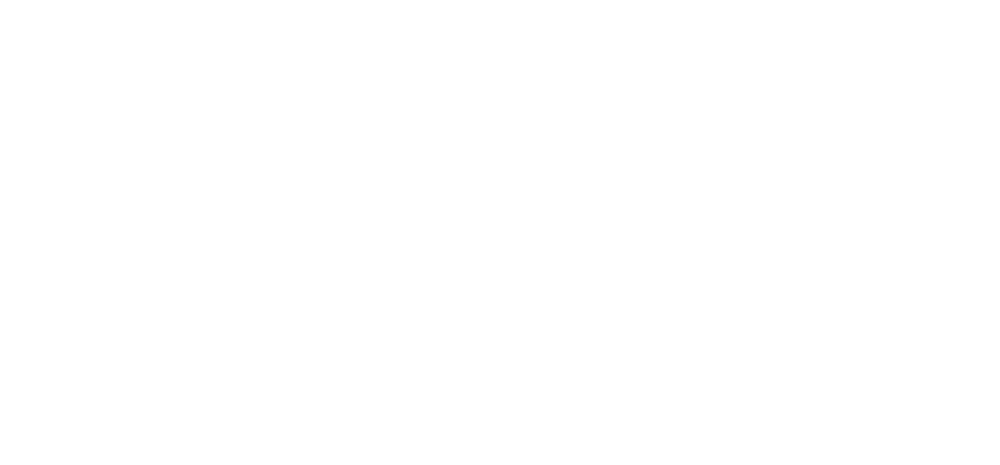A entrevista à coreógrafa Tânia Carvalho foi feita uns dias antes da apresentação da sua peça no contexto do festival Linha de Fuga. Apesar de sublinhar várias vezes a sua falta de vontade de parecer que tem certezas, lá foi desfiando o novelo, com cuidado, pois isto das palavras nem sempre é o melhor remédio. A conversa não foi longa, porque o palco do TAGV estava sob o escrutínio de pequenas obras e era preciso ir verificar tudo. É assim o trabalho da Tânia Carvalho: meticuloso. E completamente arrebatador.
Por Carina Correia
Outubro de 2020

Li algures que a Tânia Carvalho fala pouco das suas criações, sendo nomeadamente essa uma das suas imagens de marca. É verdade?
Não é que não goste. Não tenho problema nenhum em dar entrevistas ou a responder a perguntas. O que eu normalmente não gosto é de explicar uma peça, o que desde logo é impossível. Quando falo da peça, as pessoas fecham um bocado a ideia da peça ali, e isso faz-me pena, porque as pessoas têm capacidade para muito mais do que isso. Ao ver uma peça, têm a capacidade de a receber de formas mais originais, sem ser a minha só. E é por isso que não gosto. E depois, porque é mesmo difícil falar-se disto tudo que é a criatividade, de como é que se faz. Podemos falar um pouco, mas não podemos realmente explicar o que é. Depende do tipo de trabalhos, mas no meu trabalho não faz muito sentido, digamos, não é muito óbvia a forma de o falar. Eu não faço articulações de pensamento para criar peças, então não as tenho. Ao responder, parece que as tenho, e depois fica-se fechado ali.
Será que podes quebrar a regra e falar-me um pouco do que trazes aqui ao Linha de Fuga? Captado pela Intuição é uma obra de 2017: «um solo que balança entre o abstraccionismo lírico e o figurativo», segundo palavras tuas. Dois pontos opostos, não?
Eu gosto muito de ser apanhada pelas coisas. Em vez de ir à procura, fico à espera, faço quase exercícios de espera, principalmente nos solos, fico à espera de que as coisas me surjam, que passem através de mim. Na altura, o que me estava a surgir eram formas abstractas; mas depois, fazer formas abstractas com o corpo, e como é o meu corpo, torna-se complexo, porque olho e vejo uma pessoa a fazer figuras, e daí o figurativismo. E aí surgiu uma parte da peça que posso dizer ser mais teatral, entre aspas, é dança, mas vê-se que é uma pessoa que está num certo estado, numa certa situação. No início, não se vê tanto, não se percebe bem o que se está a passar, são só formas. A peça é mesmo como ela aconteceu em mim, enquanto estava em estúdio e a trabalhar. Foi um processo muito solitário. Andei um bocado a divagar, as ideias divagam, não ficam muito fixas. Mas esse texto foi uma brincadeira que fiz com essas duas coisas: esse dualismo que é estar num sítio e estar num outro.
Mas esta peça foi criada em algum contexto específico que estivesses a viver?
Não. Estive em vários sítios e andava sozinha. Quando trabalho sozinha, posso passar muitas horas em estúdio, mas as horas de ensaio da peça em si são poucas, faço outras coisas antes: alongamentos, exercícios. Na verdade, quero estar o mais aberta possível para o que possa aparecer, é assim que gosto de fazer.
A peça teve alguma adaptação para esta apresentação ou está igual?
Está igual.
Que reflexão, se é que existe, está por trás das tuas coreografias?
As reflexões estão sempre aqui, não é? Estamos sempre com a cabeça a mexer. Mas eu não escrevo sobre isso, nunca escrevi, não o faço, não falo com as pessoas sobre isso, não é uma coisa que me dê vontade. Mas os pensamentos andam aqui, penso nas coisas. Depois, olho muito para as minhas peças como espectadora. Não é fácil separar, mas há uma parte de mim que consegue. Consigo ver a peça e a partir daí ver coisas que não tinha visto, tirar conclusões, ou fazer reflexões, lá está, mas não é um exercício que eu faça metodicamente, com intenção, faço sempre sem querer.
Para ti o corpo pode ser também matéria política? Podes desenvolver essa ideia, desse papel que o corpo pode ou não ter, uma vez que o tema deste Festival é precisamente a Democracia?
Eu sei que tudo o que fazemos pode ser visto de uma forma política, mas eu não penso nisso. Eu faço política mais no meu dia-adia do que nas minhas criações. Houve uma altura em que eu tinha um discurso em que dizia que estávamos todos sozinhos, coisas assim, mas já não digo, porque pode ser interpretado como uma espécie de ideia de que estamos separados do resto do mundo e não é verdade. Eu acho que nós somos todos a mesma coisa, embora sejamos extensões diferentes dessa coisa. E por isso é que gosto de fazer este tipo de trabalho, senão não havia tanta ligação. Quando vamos ver um espectáculo e nos sentimos conectados com o que vemos, ou mesmo na rua, estamos realmente ligados. Se eu pensar na minha forma política de estar na arte, é a forma como eu trato as pessoas dentro da arte, como trato os bailarinos que trabalham comigo, os produtores, as pessoas que trabalham nos teatros. Eu vejo as pessoas todas de forma igual, e acho que tem de começar por aí. Não me apetece fazer uma obra e falar sobre os direitos humanos e depois chegar ao teatro e tratar mal um técnico. Isso não faz sentido nenhum. Para mim, a política está no meu fazer do dia-a-dia e não na minha criação. Acho que a criação é importante, e há pessoas que têm muito talento para fazer criação política, conheço artistas que o fazem, mas não é a minha vertente. Por exemplo, o que eu acho que faço é dar às pessoas um trabalho que é uma pesquisa interna profunda, que é um estar à espera do que surja, e querer comunicar-lhes isso, porque também é delas, pois eu vou buscar as coisas a um sítio que é de todos. E trazer cá para cima coisas que estão enterradas, ou a pedir para serem vistas de alguma forma, e comunicar com elas ajuda a que depois as pessoas possam pensar as suas políticas de modo diferente, porque a arte muda as pessoas. Nesse sentido, sim, o meu trabalho é político, mas não directamente. Quando trabalho, não sou eu que mando, é algo que não sei explicar. Acho que os artistas todos têm isso. É algo que sentimos que temos de fazer. O trabalho é que me faz a mim, funciona um bocado ao contrário. E este solo foi muito assim. Tive muito tempo sozinha, muito tempo de estudo, de silêncio, na rua, e as coisas apareceram-me. Essa parte mais política, mental, não me surge, o que não quer dizer que não ache importante.
E a oficina de dança «Flores»? Foi-te lançado, para ela, o desafio de «assumir a intuição como facilitadora do surgimento do ser social». É fácil promover esse trabalho corporal com quem muitas vezes não tem noção ou consciência dessa intuição?
Não é fácil nem difícil, depende das pessoas. São três dias, não vou impingir às pessoas a minha forma de fazer, lá está. Eu vou lá dar algumas ideias de coisas que podem fazer e guiá-las de alguma forma. Mas nunca me passa pela cabeça dizer «eu faço assim e é assim que se deve fazer». Cada um tem a sua forma de fazer e não há uma forma melhor do que outra. Acho que a intuição é importante, que devemos ouvi-la, mas não se ensina de uma maneira específica. E só é despertado quem quer despertar. Alguns alunos irão sentir que gostam deste trabalho, outros não, mas isso é normal. Eu não vou fazer esforço para que sintam afinidade comigo. O que faço é mostrar, partilhar, para ver se surge. Mas eu também vou receber, é uma troca. Por isso, é que acho que não se ensina, só se aprende. Normalmente, corre sempre bem.
A coreografia, o trabalho com o corpo, é só um dos campos em que te moves e crias. Há outros, como a música e o desenho. Pessoalmente, gosto muito dos teus desenhos, apesar de, ou se calhar por isso mesmo, transmitirem uma certa ideia de caos, e talvez até de solidão. E são desenhos que sugerem também movimento. Como é esse processo? Desenhas muito?
Há fases em que desenho mais e outras, menos, não tenho método. Os meus bonecos são sempre os mesmos, mas eles mudam. Os mais antigos são mais… maléficos, acho eu. Actualmente, são mais pacíficos. Creio que todos temos um lado mais negro que escondemos, e essas sombras saem-me quando desenho. Todos temos essas sombras, que por vezes são mal vistas, mas fazem parte de nós, temos de as assumir e estar confortáveis com elas, senão ficam piores. E acho que o desenho é um bom exercício para isso. Há dois tipos de desenho: uns em que são só os bonecos, todos iguais, ou parecidos, e outros em que eles estão uns em cima dos outros, numa espécie de equilíbrio, e que não os vejo como estando sozinhos, porque se tiro um, aquilo cai tudo. Portanto, tudo é preciso para estar bem. Na verdade, representam tudo o que existe, o bom e o mau. São uma espécie de uma fracção de segundo de um mundo qualquer, como um frame de um filme que continua. Mas no fundo, é harmonia o que existe ali.
Pensar a partir do corpo é, à primeira vista, pensar antes da fala, é usar uma outra linguagem que não a da palavra. Achas que são linguagens antónimas?
Nós descodificamos tudo através da palavra, somos seres humanos. Mas há outros seres que não usam a palavra, que usam movimento. Quanto ao corpo, eu antes de aprender a falar já me mexia. E podia nunca ter aprendido, podia não saber falar. A palavra está em tudo porque nós de facto falamos de tudo e é a nossa forma de comunicar mais comum, mas não é a única. Por exemplo, a música é uma forma de comunicação muito forte; podemos falar dela, mas não conseguimos por palavras transcrever uma música. Nós identificamos sons, podemos tentar defini-los, mas não conhecemos, por exemplo, o som do mar enquanto não o ouvirmos. Não conheço o sabor desta bebida que estou a beber enquanto não a provar, por melhor que mo descrevas. Quanto ao meu trabalho de movimento, eu estou a sentir uma coisa e cada espectador sente outra, vê outra. Às vezes, pode até questionar-se se a peça existe ou não. Como é que as coisas existem se cada um tem uma interpretação? Na verdade, não existem, existem interpretações.
Gostas de falar com os outros das interpretações que fazem do teu trabalho?
Gosto de saber, mas não é que isso que me vai motivar. Gosto de ouvir e gosto de falar das coisas que vejo também. O meu problema às vezes é a importância exagerada que se dá às coisas. Por exemplo, uma pessoa vai ver um espectáculo e lê antes aquele texto das folhas de sala e dá-lhe muita importância. Para mim, já está o caldo entornado.
Preferias não ter folhas de sala, portanto.
Preferia, sem dúvida. Mas os teatros querem sempre dar.
Não achas que pode ajudar por vezes ter algumas luzes?
Acho que enquanto houver essa ideia… O papel vai ajudar, mas é uma ficção. Depende dos trabalhos, claro, há trabalhos que precisam. No meu, não precisava de ter o texto. Acho que devia ser uma escolha de cada artista ter esse texto ou não antes. Penso que o meu trabalho é melhor recebido se não se souber nada sobre ele. E até prefiro. Isso faz-me lembrar que as pessoas muitas vezes dizem que não percebem nada de dança. Isso dá-me pena, porque a dança, lá está, não é a palavra que está à volta dela, é só aquele momento em que a pessoa se está a mexer. É como a música. Há pessoas que não sabem nada da escala, nem de notas, e ouvem música e entendem a música. São frequências, são energias, e a dança é a mesma coisa.
A tua vasta internacionalização permite-te fazer algumas comparações com os diferentes estados da cultura e das artes em diversos países. Fala um pouco da tua percepção dessas diferenças.
Sim, existem diferenças, mas acaba por ser muito parecido. Não estamos a falar em termos criativos, certo? Há países onde a dança é mesmo muito importante, muito querida. Por exemplo, na França e na Bélgica. Fazes em França um espectáculo de dança numa terra pequena e o teatro está cheio. Mas é normal, porque fazem dança, têm essa cultura, há muitos mais anos do que nós. Como se para nós fosse o fado, ou algo do género. Em Portugal, acho que não estamos assim tão mal. Não falo de aspectos financeiros, nem de concursos, dessas chatices em que as coisas podiam estar sempre melhores e podiam ser feitas de outra forma, menos complexa, mas isso também existe nos outros sítios.
Ainda tens dificuldades nesse campo ou é algo que já não te afecta por seres reconhecida?
Sim, tenho. Parece que não, mas sim. Concorri aos últimos e não tive apoio, e acho que tinha um bom programa. Mas é assim, não há para todos. Mas também não reclamei: há um júri que decidiu e está decidido. Nesse sentido, não sou privilegiada, mas sou noutros, sinto que já tenho um trabalho válido, por assim dizer. As palavras às vezes são complicadas. Mas sim, tenho um trabalho que é reconhecido aqui e fora, já não tenho de provar certas coisas. Quando trabalho fora, não entro a fundo num sistema, não sei fazer bem essa comparação. Sei que com a Pandemia houve artistas que nem se candidataram a esses concursos, receberam logo o apoio. Mas são países com mais dinheiro. Acho que as coisas têm de se ver de uma forma mais global.
Pegando no assunto Pandemia, mas também no surgimento de diversos contextos podres por todo o mundo, que é na tua opinião suposto fazer-se para que a cultura seja vista de uma vez como essencial, como aquilo que nos permite consolidar a humanidade e lidar com esta espécie de falhanço da vida?
Acho que as coisas se fazem muito no dia-a-dia. E devemos ver as coisas boas e não só criticar. Há uns anos, isto estava muito pior. Nós já melhorámos imenso, é preciso olhar para esse crescimento. Não gosto de falar destes assuntos, porque precisava de os estudar e perceber melhor, não falar só por falar. Quando eu comecei a fazer dança, havia menos pessoas a fazer; havendo agora mais, é normal que o apoio seja menor. Mas há também mais sítios onde fazer espectáculos, e é mais fácil circular, há outras facilidades. Mas o artista devia deixar de ser visto como alguém que fica bem com pouco, que vai resolver, que se vai desenrascar, e essa ideia está intrínseca, muitas vezes nos próprios artistas. É complexo alterar, tem de ser dos dois lados. Por isso, acho que é um trabalho diário. Não é só mudar estatutos, mas um lado psicológico também. Os artistas devem exigir que o seu trabalho seja bem pago. Eu só faço um espectáculo se tiver dinheiro para ele, para pagar ensaios, bailarinos, tudo.
A seguir a Coimbra, vais para onde?
Vou para Marselha. Estou a fazer uma criação nova com uma Companhia de lá.

Este texto integra a coletânea produzida pelo grupo Crítica de Fuga, que acompanha os trabalhos dos artistas e as atividades do Festival Internacional de Artes Performativas – Linha de Fuga.