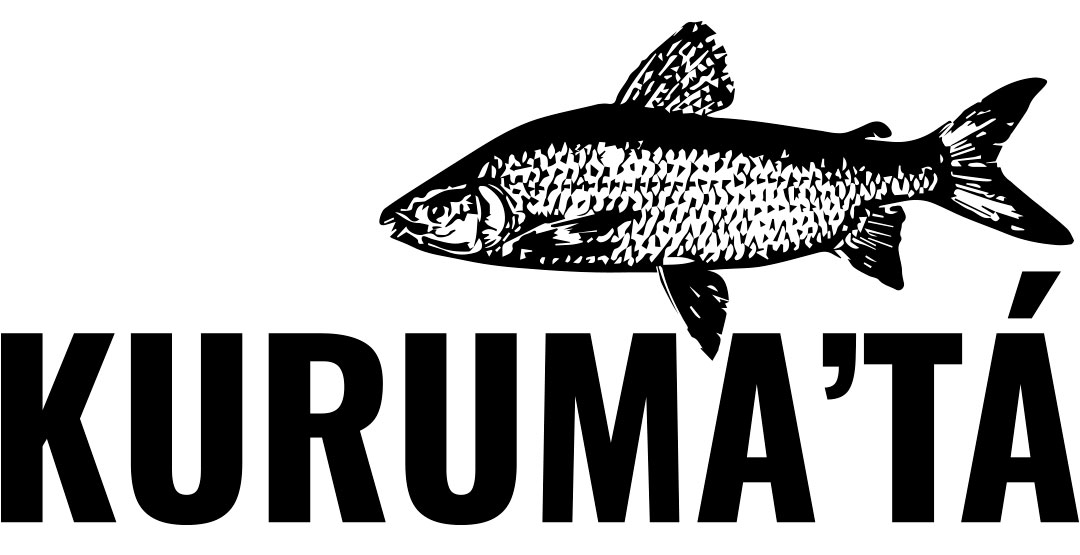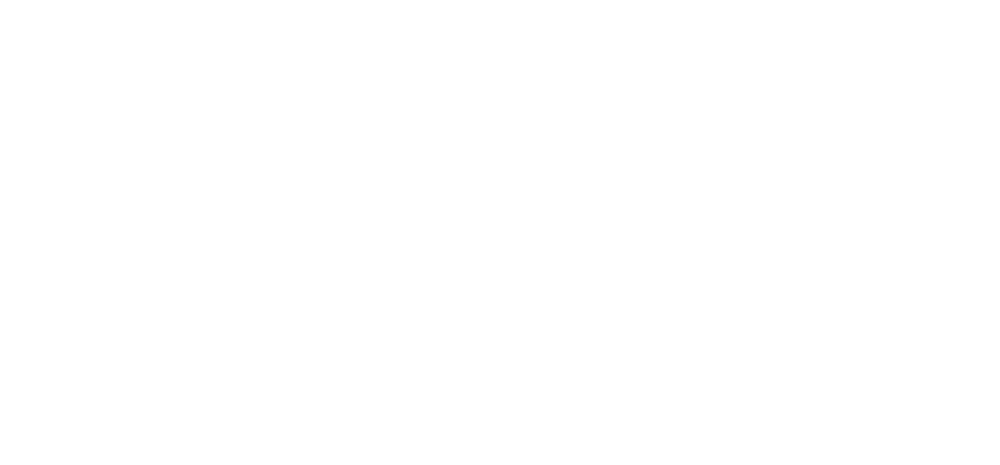Texto de Toinho Castro

Tem esse meu amigo, de quem já falei em outras crônicas que publiquei por aí, o Roberval. De certa feita, fui à casa dele, como de costume, para atualizar nossas vidas sem rumo. Roberval morava ali na fronteira da Imbiribeira com Boa Viagem, fronteira marcada pela linha do trem, que cortava a cidade naquela altura, ligando as distâncias até o centro do Recife. E lá estou de papo furado com Roberval, sentados a esmo na calçada da casa dele, quando sugeri da gente ir ao cinema, ver o filme tal que estava em cartaz. Beval me olhou muito sério e como quem está pensando em voz alta me falou: — Toinho, não vou mais pro cinema não. E então me explicou que havia assistido E la nave va, de Federico Fellini, e que agora não precisava ver mais filme algum, que o cinema tinha acabo de dizer a ele tudo que ele precisava. Tudo que era realmente necessário.
Sem querer decepcionar quem eventualmente possa estar a ler esse texto, é claro que Roberval acabou vendo outros filmes depois desse dia. Eram os anos 80 do século 20, a gente era meio liso e cinema era a melhor diversão, e a mais barata também. Depois da praia, claro!
Mesmo Roberval não sendo firme em sua resolução solitária, essa pequena história dá uma dimensão do impacto de Fellini nas nossas vidas pequenas, de um subúrbio perdido numa cidade longe demais da Itália. Assisti E la nave va pouco depois e, ao contrário do que se deu com Roberval, me deu vontade de ver mais filmes, de ir mais ao cinema. Aquilo era tão enorme, tão revelador do que éramos e de como nos sentíamos no mundo. O cinema era um diálogo contínuo com nós mesmos. No livro Esculpir o tempo, de outro grande cineasta que nos foi formador, Andrei Tarkovski, destaca-se a carta de uma espectadora do seu filme O espelho. Ela diz ao diretor:
Você sabe, no escuro daquele cinema, olhando para aquele pedaço de tela iluminado pelo seu talento, senti pela primeira vez que não estava sozinha.
A visão de Roberval, de que não precisar mais ver filme algum, e a minha, de querer ver mais e mais, eram a mesma. Frutos do maravilhamento, do intocável. A gente talvez fosse ingênuos mas tínhamos essa relação do sagrado com o cinema, que projetava na tela iluminada sonhos que eram nossos. Como Fellini sabia o que sonhávamos? Ou Antonioni e Bergman? Na época não tinha internet, conseguir livros bons sobre cinema era mais difícil e caro. A gente sabia bem menos sobre os filmes, os diretores. Não tinha também tanta gente esrevendo sobre cinema como hoje, com tantos blogs, canais do Youtube, onde tudo é discutido, explicado, revirado. Cada filme era um mistério que se desvendava na gente, no papo da calçada, em que de repente algo se descortinava.
Em 1990 assistimos A voz da Lua. Éramos os loucos, os amantes do cinema com a lua a nos guiar. Saí do cinema refletindo sobre esse privilégio que era ser contemporâneo de um cineasta como Fellini, de ter seus filmes ali para poder reimaginar meu próprio mundo. Essa frase, o filme novo de Fellini estreou… que coisa boa de se dizer e de se ouvir. Lembro de ter saído do cinema, acho que Trianon, muito animado a escutar a voz da Lua em meio ao ruge-ruge do centro do Recife; essa voz subliminar na minha vida, narrando e guiando.A voz do cinema, do sonho. Da loucura.
Ontem, dia 20 de janeiro, marcou-se o centenário de Fellini, que morreu em 1993, no ano que visitei o Rio de Janeiro pela primeira vez e que tudo mudou para mim. E já ali não queria mais voltar para o Recife e os anos seguintes foram um esforço de tornar isso real. Em 1997 vim morar definitivamente no Rio e nunca mais sentei com Roberval na calçada da casa dele para conversar sobre cinema. E de lá pra cá uma avalanche de informações caiu sobre nós. Mas ainda tento, e sei que Roberval também, preservar esse mistério, esse olhar de surpresa permanente diante de uma tela iluminada pelo talento de Fellini.