Texto de Toinho Castro

Peço licença para falar sobre Bacurau, o premiado filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles que estreia hoje em circuito nacional de cinema. Peço licença porque não sou crítico de cinema e já conferi que muita gente boa e mais preparada desfiou muito rosário sobre significados, metáforas, influências.
Então começo mesmo é falando da maravilha que é ser espectador desse filme, despido da cinefilia, e da maravilha que é esses dois cineastas terem mergulhado no Sertão do Seridó, para dar ouvido a essa voz do dentro do Brasil. E com maestria ter relacionado isso ao mundo, processando as tais influências, que prefiro chamar de presenças. Posso imaginar um John Carpenter translúcido, ectoplasmático, rondando pelo set de Bacurau, menos dando pitacos e mais observando com certo orgulho aquelas duas crias, Juliano e Kleber, fazendo não como ele fez, mas porque ele fez e faz. O que move um John Carpenter, uma Agnes Varda (homenageada do Festival de Cannes que agraciou Bacurau com o Prêmio do juri), um Glauber Rocha, é o que move Juliano e Kleber; um amor de ter visto tantos filmes e se jogar a fazê-los.
Duas coisas que tem se falado de Bacurau é a questão dos filmes de gênero e desse momento que vive o país (o mundo…) em que Bacurau se crava como uma estaca no peito de um vampiro. Pois… O filme brinca com a necessidade de ser enquadrado num modelo, numa prateleira da locadora (Deus! Isso nem existe mais!). Antes de classificá-lo nesse ou naquele gênero (Ficção científica distópica? Terror? Filme de bang-bang?), é preciso ler Bacurau como um filme brasileiro. Brasileiríssimo e daí antropofágico. De novo recorro à imaginação e projeto os Andrades, Joaquim Pedro, Oswald e Mário (que andou pelos sertões) sentados nessa anacronia deliciosa que é a cadeira do cinema, de olhos bem abertos e vibrando a cada cena em que a história de um vilarejo sertanejo se insurge contra caçadores de gente americanos se desenrola, uma encruzilhada em que se cruzam passados e futuros possíveis.
Essa encruzilhada se chama tempo presente, e é aí que Bacurau rodopia no centro do momento político vivido pelo Brasil. A inevitável leitura do filme como parábola do desvario em que o país se arrasta, rumo a que ainda não se sabe. Talvez essa leitura seja mesmo real, correta e, sobretudo, importante. É um filme com senso de espetáculo, que envolve a plateia e ao mesmo tempo a denuncia na função de plateia. Enquanto estamos sentados, torcendo, aplaudindo a tenacidade sertaneja, somos quem assiste. A ação ocorre na tela, e há quem imagine o deslocamento da ação para a realidade, que nos enclausura no que somos.
Mas gosto mesmo é de deslocar o filme desse furacão circunstancial, para exercê-lo como cinema com vida própria. Encantou-me no filme momentos em que a história parece se evaporar num fotograma para dar lugar ao cinema, essa entidade autônoma que se impõe sobre o desejo de se estabelecer narrativas. Mas sem dúvida é um filme de história, de contar história, e essa história implacável pode ser contada em qualquer época. Não está circunscrita ao que vivemos nesse agora que parece não ter fim, pois ela mexe com coisas imersas na alma, com conflitos e atitudes que são de cada um de nós. Olhe bem pra cada atriz, cada ator se desdobrando naquela tela iluminada e se veja neles, entre eles. Nisso reside a dimensão cinematográfica de Bacurau e de seus realizadores.
E aí vem o que quero muito falar. Quando digo realizadores, no plural, enfatizo justamente essa pluralidade do cinema e desse filme. Muito ouvimos falar de filme de autor. Bacurau se livra disso para ser um filme de autores. Quando a dupla de cineastas, atores e equipe, com a produção valente e precisa de Emilie Lesclaux pra segurar a fera que é fazer um filme desses, entra numa comunidade do sertão do Rio Grande do Norte, envolve a população, chama todo mundo pra junto, pra dentro… o que se entrega no final é um trabalho em que pulsa a coletividade. O som ao redor parece ser um trabalho tão autocentrado, em que Kleber Mendonça revisa um tanto de sua vivência no subúrbio recifense (Juliano é responsável pela direção de arte do filme), extrapolando as tensões de classe e a história autoritária do engenho na zona da mata de Pernambuco, enquanto vemos em Bacurau a partilha de visões e a costura de muitas mãos num tecido precioso. O cinema quase sempre é uma arte de muita gente, mas em produções como Bacurau isso ganha uma nova ênfase. De novo o momento político se impõe e nos obriga a lembrar que o filme gerou centenas de empregos diretos e indiretos, numa comunidade que não imaginaria, possivelmente, tirar sustento, inspiração de vida e aprendizado rico de uma realização cinematográfica desse porte.

Recuso-me a ser cinéfilo em certos momentos, sacando de dados, referências e discursos armados para definir e enquadrar o que quer que seja. Talvez me falte mesmo é capacidade para isso. Vai saber… Lembro de certa vez em que assisti, numa Sessão Coruja da vida, pela primeira vez, Do mundo nada se leva, de Frank Capra. Um filme também de resistência, de insistência, de certo poder escondido numa simplicidade muito mal lida por quem se impõe contra ela. Lembro que na manhã seguinte eu caminhava pelo passeio central da avenida Conde da Boa vista, no Recife, quando encontrei meu amigo Roberval. Ele mal me viu e foi dizendo: Viu aquele filme ontem?! Respondi que sim, que sim… Que filme foda, concluímos. E foi aquilo. Uma troca de olhares, um reconhecimento mútuo, uma espécie de identidade comum, que nos unia num lapso de mundo enquanto o tráfego da Conde da Boa Vista rosnava à nossa volta. Ao sair de Bacurau tudo que eu queria era encontrar Roberval, olhar nos olhos dele e dizer: Tu viu? Que filme foda!
Pós-escrito Um breve comentário sobre as música no filme. A trilha sonora sempre foi algo a que Kleber deu muito carinho nos seus filmes anteriores. Acredito que Juliano compartilhe desse mesmo credo. Da importância da música, mesmo do som, quando falamos de cinema. O filme abre lindamente com Gal em Não Identificado, talvez já te avisando a não colocar o filme numa caixa e fazendo troça da ideia de ficção científica. O uso de Réquiem para Matraga, de Geraldo Vandré, pode parecer uma homenagem ao cinema, mas é muito mais uma afirmação do poder dessa canção, do seu poder narrativo, que em pouco versos praticamente resume o filme. Diálogo entre tempos, entre artistas. De arrepiar. Nos surpreende ainda o maestro Nelson Ferreira, com seu recife intrínseco se esgueirando na paisagem do Seridó. Falando em se esgueirar, como não pensar na música sintetizada, Night, de John Carpenter adentrando em cena numa demonstração dos muitos cruzamentos que esse mundo tem, mostrando que há elos poderosos entre coisas que parecem muito diferentes (falo assim cifradamente para não dar spoiler de uma cena que vejo como crucial). Por fim… Bichos da Noite, de Sergio Ricardo, sobre poema do pernambucano Joaquim Cardoso (do bumba meu boi O Coronel de Macambira), nos carrega noutra cena de imenso poder, beirando o sobrenatural, e resgata essa sonoridade que só pode surgir num país como este em que vivemos, lutamos e nos esprememos para passar por portas estreitas.
Pós escrito 2 Esse filme ser lançado no mesmo mês, quase no mesmo dia, do centenário de nascimento de Jackson do Pandeiro é simplesmente auspicioso. Durante o filme inteiro eu só lembrava de Capoeira mata um…
Valha-me Deus, Senhor São Bento
Buraco velho tem cobra dentro
Um conselho pra quem não for a Bacurau na paz.








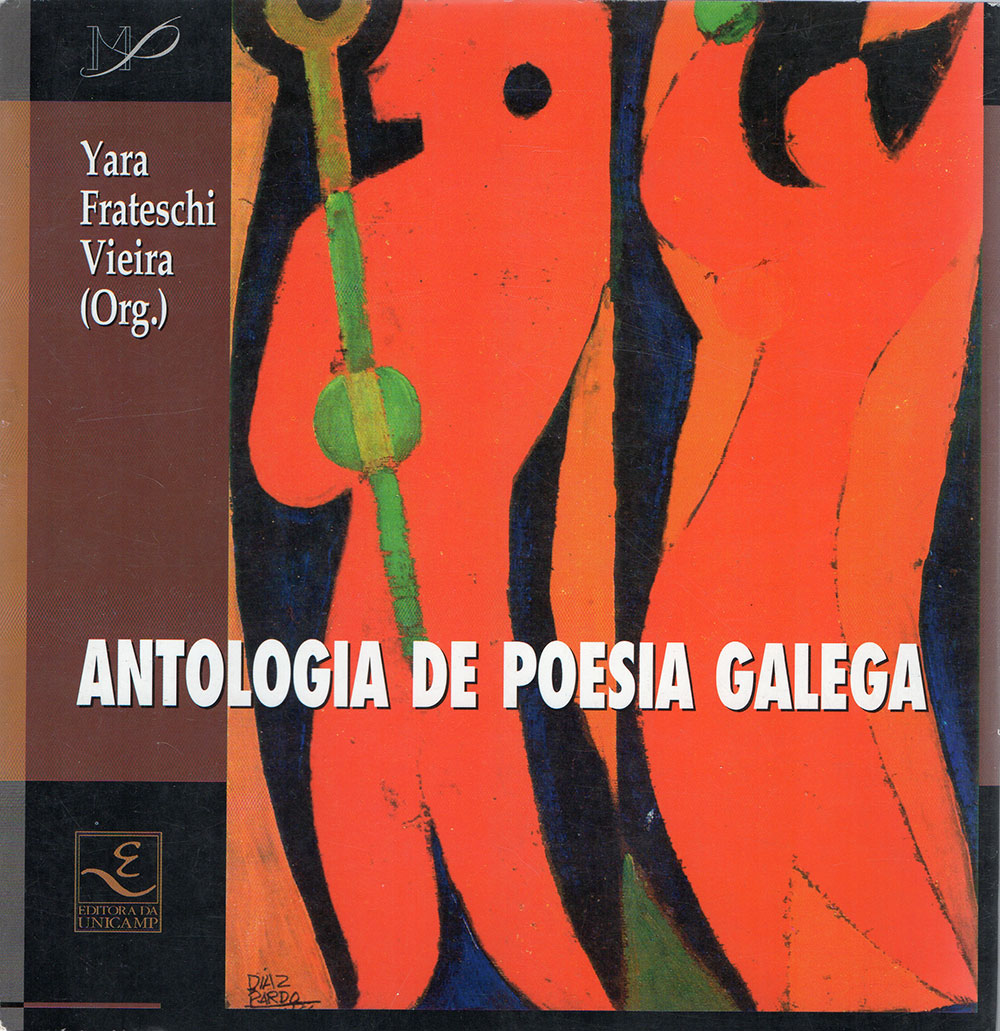


Texto gigante de bom para um filme gigante de foda.
Valeu, Amândio! A Kuruma’tá tá esperando outro texto seu, heim?!
Texto arrebatador, de se ler num só fôlego, sem querer despregar os olhos… faz jus à grandeza do Bacurau.
Salma, aqui é o Toinho Castro falando, para agradecer de muito coração seu comentário! Bacurau é que é arrebatador, né?! Que filmaço! Somos felizes de ter um cinema assim iluminando a tela quando tudo em volta parece tão escuro! Valeu. E acompanhe a Kuruma’tá!
Precioso como Bacurau, é o texto de Toinho Castro. E bom que que tenha vindo de alguém que se diz “não crítico de cinema”, mas que tem a competência e sensibilidade para tratar de Bacurau um filme bonito,simples arrebatador e igualmente complexo em nuances, fatos, história, que envolveu uma equipe tão afinada, aguerrida e competente, pra oferecer esse bálsamo à nossa cultura cinematográfica.
Bacural é foda. Vc tbem Toinho Castro.
Zidi, esse seu comentário ia passar em branco! Não pode! Você é querida demais aqui nos descampados mágicos da Kuruma’tá! Obrigado mais uma vez pela sua atenção tão carinhosa com o que a gente tá fazendo aqui!
O texto me deixou sem fôlego, assim como muitos momentos do filme. Bateu aquela vontade de rever as cenas casando-as com os comentários tão sensatos que instigam ainda mais as multiplas leituras que se pode ter a cada momento.
Daiana! A gente agradece demais esse seu comentário. Que bom ver que podemos despertar essa curiosidade, essa vontade de rever o filme. Seja sempre muito bem-vinda à Kuruma’tá!