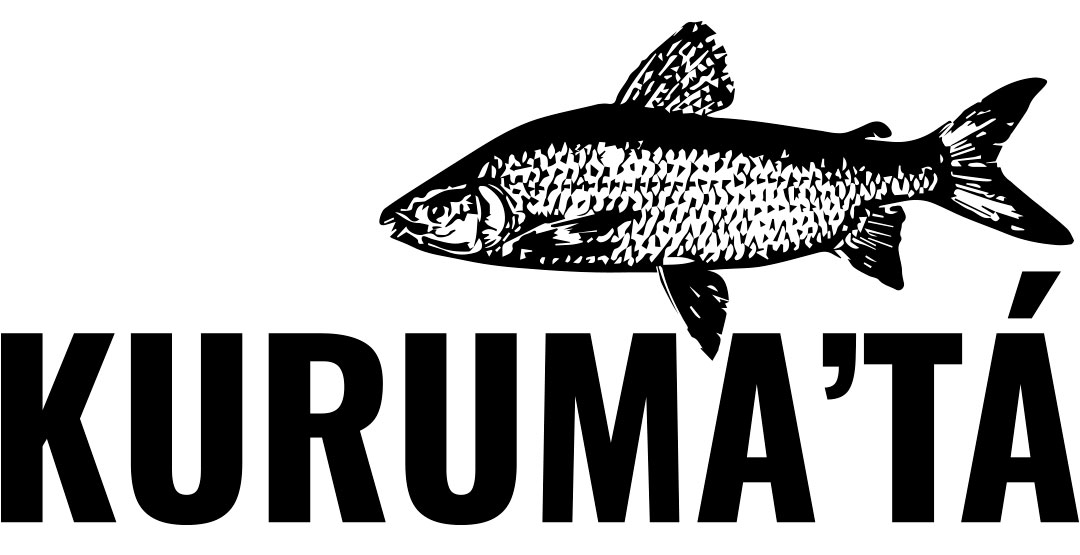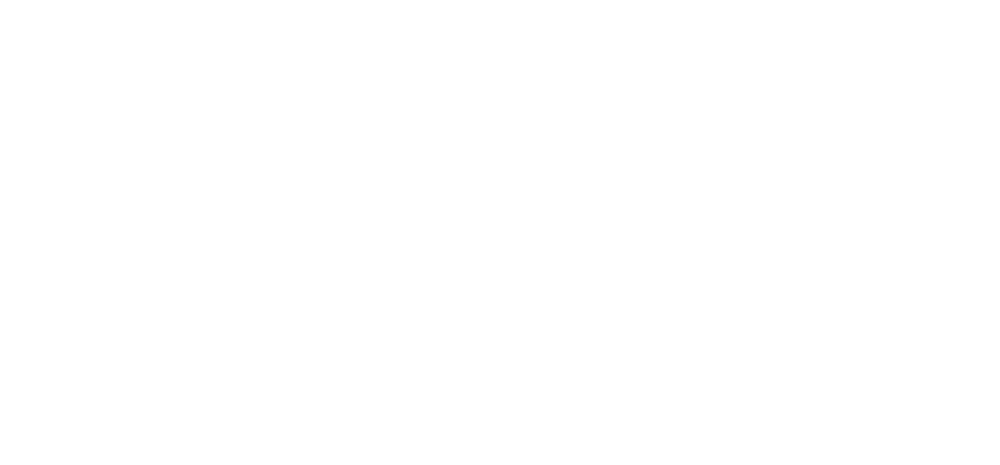Crítica de Eduardo Frota

O primeiro filme de terror de que se tem notícia tinha a mera intenção de entreter o público. Foi em 1896 que Georges Méliès apresentou um curta de apenas dois minutos chamado A mansão do Diabo. Resultado? Uma incauta plateia de cabelos em pé! Bem mais tarde, mais precisamente em 1920, O gabinete do Dr Caligari se tornou o primeiro longa de horror, colocando em discussão o tabu da morte e da quiromancia – quando o doutor em questão, também praticante de quiromancia, prevê a morte de um homem e… acerta! O gênero ganhou força e serviu como um espelho dos medos e anseios de nós mesmos, humanos. No início do século passado, muitos foram os clássicos da literatura de horror que foram transcritos para a tela grande.
Aí vieram os clássicos: filmes de vampiros, zumbis, espíritos e psicopatas. Também houve uma época em que qualquer animal gigante era aterrorizante e rendia bilheteria. Formigas gigantes, aranhas gigantes, vespas gigantes e até lesmas gigantes destruindo os sonhos da sociedade de consumo que se via em pleno declínio em meio a duas guerras mundiais. O contraponto era bem claro. Diferentemente dos insetos sociais, que vivem em colônias, o ser humano não conseguia se organizar para viver em comunidade.
Hollywood percebeu esse filão mercadológico e tratou de se apropriar das narrativas de terror. Cunhou uma estética que há muito tempo se mantém praticamente intocada: paga-se para levar sustos. E aí, convenhamos, sempre vemos mais do mesmo… É boneco assassino, palhaço do mal, criança fantasma, remake de terror japonês e uma série de produções que se prestam apenas a provocar pulos na poltrona e render continuações (já perdemos a conta de quantas vezes Jason já ressucitou). No entanto, dificilmente quem curte o gênero sai realmente assustado de uma dessas sessões. Poucas foram as produções que de fato marcaram a história do cinema e deixaram uma geração com medo de dormir no escuro, como O exorcista, A hora do pesadelo ou O iluminado.
No entanto, desde A Bruxa o cinema de horror ganhou um certo fôlego. Como Méliès já tinha provado, mais bacana do que pregar sustos é fazer com que o espectador fique amedrontado o tempo inteiro, até mesmo depois da sessão. É aquela história: não adianta ver o filme com uma almofada para cobrir o rosto em uma determinada sequência (ou tapar os ouvidos). O terror está lá o tempo inteiro.
Midsommar, do diretor Ari Aster, um dos produtores de A Bruxa, faz isso como poucos. Esqueça os sustos, a trilha sonora incidental que entrega o clímax e esses outros artifícios efêmeros. Nada de monstros, espíritos, possessões ou afins. Nem mansões caindo aos pedaços, casas assombradas ou cemitérios indígenas. Pelo contrário. A vila em que a narrativa acontece é idílica, com moradores receptivos e prestativos, vestidos de branco, no que mais parece ser um Éden. Aqui, o homem é algoz dele mesmo.
O argumento é brilhante, ainda mais se tratando de um diretor estadunidense: estudantes de antropologia viajam até uma vila longínqua na Suécia para participar de um festival em homenagem ao solstício de verão. A namorada de um deles, que não tem na “bagagem” referências como o estruturalismo, as manifestações totêmicas ou o determinismo é a protagonista que encaminha toda a linha narrativa. Psicóloga de formação, viaja abalada por uma tragédia pessoal.
Lá, o grupo de estrangeiros percebe que a linha que separa o que é cultura e o que é maldade é muito tênue. Impossível não lembrar de um texto que circulava pelas aulas de antropologia no primeiro período de algumas universidades, chamado “Os sonaciremas“. Enquanto os aspirantes a antropólogos tentam relativizar práticas nada convencionais, a protagonista encara uma jornada pessoal bem pesada, na qual êxtase e angústia andam de mãos dadas.
Como em seu filme anterior, Hereditário, Aster faz uma direção de atores brilhante. Diferentemente do primeiro trabalho, em Midsommar ele não utiliza reviravoltas mirabolantes e se atém ao argumento até o fim, o que mostra maturidade no ofício de diretor. Inclusive, não há nenhuma surpresa no desfecho. Sua força está na forma como é filmado – diga-se de passagem, irretocavelmente.
Os espectadores com estômago mais sensível talvez precisem de uma almofada em uma ou outra cena, porque a violência em certos momentos é brutal e até mesmo escatológica. Porém, é bem encaixada e coesa com a proposta.
Muito bom poder escrever isto > taí um belo filme de terror!