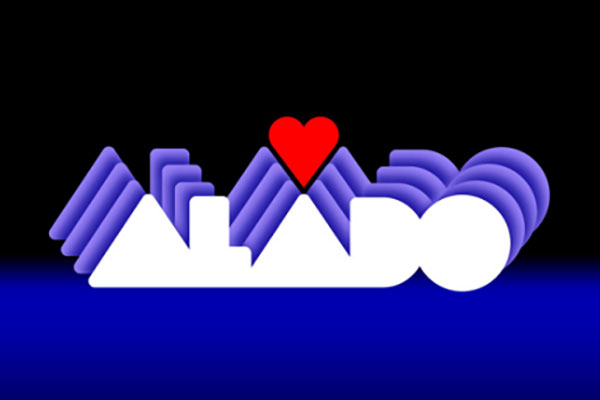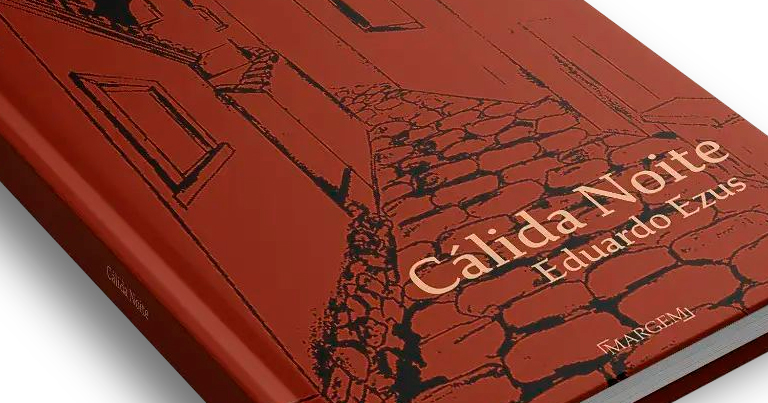Sabe aquele contato que a gente faz, aí se perde no rebuliço das horas, dos dias, dos e-mails, das mensagens?! Pois… Eis que reencontrei dias desses um desses elos perdidos das conversas ao acaso. A artista Lu Lessa, residente na boa Coimbra, me falou desse moço, o Alexandre Gigas, amigo, poeta, artista como ela. Que a gente tinha que trocar ideias, palavras, feitos heroicos! E-mail vai e vem e some, mas na confusão de distrações Gigas deixou-nos uns poemas a serem publicado na Kuruma’tá. Reencontrá-los foi graça alcançada, item no somatório das coisas boas que se insurgem contra as coisas ruins.
São cinco poema inéditos, pensados para um volume chamado Caixa de fósforos. Somando aqui os dias que passaram desde essa troca de mensagens, pode ser que o livro já esteja por aí e não sejam mais inéditos esses poemas. Mas vale ainda assim por essa ponte cruzando o Atlântico e pela beleza desses versos.
— Toinho Castro
Poemas de Alexandre Valinhos Gigas
1.
Um velho da minha aldeia
indicou-me um poço sem fundo
para além do dedo mais esticado
com que perfurava o verde da encosta.
Os poços, como as grutas,
são túneis de passagem aos sonhos
que o desconhecido encerra.
Fiquei abismado pelo segredo tamanho
que esse “sem fundo” continha.
Fui procurá-lo, escondido,
para que só eu medisse
o meu medo até à sua tenebrosa boca
e só a minha coragem carregasse a pedra
com que sondaria a profundidade do segredo.
Nessa noite, nasceu a ideia de eco
que a pedra reproduziria se fundo houvesse
e, sonhando, media os anéis de água
que percorreriam a terra desde aí,
que abririam o caminho que só eu conheceria.
Atirei mal a pedra – pensava –
que isto dos labirintos ocultos
revelam todas as possibilidades.
À segunda tentativa fugi,
porque o urrar do vento
ainda não me tinha sido explicado
e ter coragem sozinho me pareceu absurdo.
A terceira pedra foi atirada com ajuda,
que confirmou ter o poço cinco metros de altura.
Não ouvi mais as cantilenas do velho,
em pretérito de entender o vento.
Hoje, trago comigo um velho feito de anéis ecoantes,
os olhos espetados no verde das encostas,
medindo o sonho sem fundo onde caí.
Ouço o outro pela boca do vento,
urrando o terror escondido na terra,
perfurando o medo de caminhar
para além da coragem de encontrar o absurdo.
2.
Ouvi histórias, em primeira mão,
dos velhos-meninos da guerra civil espanhola.
De forma indirecta, dos descendentes
dos fantasmas sem sepulcro,
que ainda deambulam pelos silêncios
incómodos de alguns encontros de família.
Sempre que recebi esses murros no estômago
olhei ou imaginei o céu aberto
que os fuzilados olhavam antes do tiro.
Nunca pensei nos seus gritos ou palavras de ordem,
porque o Lorca me falou de amor
tantas vezes, nos almoços do trabalho,
na pausa da exumação dos cadáveres mudos.
Preferia a visão muito romântica
da luta anti-fascista na europa colonial-democrata.
Agora sou menos ingénuo.
Ao observar as plantações de arame farpado
nas mentalidades que me circundam,
sinto que tenho de ser pragmático.
Tenho de guardar um fósforo
para uma mecha de pólvora seguir
o meu caminho de luta
ou para o derradeiro cigarro que me calará
perante o azul das convicções onde me afirmo.
3.
A zona de conforto, à noite,
é uma densa selva que o fósforo reabre
no mundo concreto de uma vela.
Na visão das molduras, a tribo festiva
celebra a respiração das árvores,
o correr das águas jovens escavando caminhos.
O murmúrio dinâmico das copas,
insistindo na música que fala de esperança.
Prendi a arquitectura da cidade num arame –
o corpo numa suspensão de compostagem –
os elementos dando novos sentidos à caótica alma.
Memórias secas flutuando pelos regatos.
A árvore diz que o fado é um choro
que limpa as memórias duras
e as transforma em amor.
A árvore diz que a curiosidade sobre o outro
deve servir o melhor conhecimento sobre o outro
para do outro melhor cuidar.
Ao esfregar os olhos esqueci
o ponto de chegada.
Re-aprendi, sem método e objetivo,
que as fontes das águas limpas
nascem no céu e as lágrimas
são um som interior que as transporta
do azul à terra quente.
Cada um é um filtro.
Os meus pés germinaram mil braços,
como lava que inventa a nova ilha
na ebulição das águas doridas.
Talvez um continente antigo desperte
na invenção de um novo labirinto.
A vela ardeu.
Tudo retoma a quente normalidade
da mão que, na minha, conforta o regresso
a este eu, que nunca conheci.
4.
Fome
Estou farto da fome.
A fome entranha-se no corpo e em tudo o que pauta o quotidiano.
A fome não se esfolia com o duche e cheira a sabão azul.
A fome tem um odor nauseabundo.
A fome tem tártaro nos dentes e não tem cáries.
A fome tem um brilho opaco nos olhos, os braços caídos no tronco e os passos lentos, lentos.
A fome tem o rosto da Autoridade Tributária e Aduaneira, ditas Finanças, numa missiva recebida pela manhã.
A fome é tutelada e gerida pela SS, dita Segurança Social, e pelos seus agentes de olhar frio, mas também piedoso, beato e casto.
A Tutela da fome desconhece a fome.
A fome é ministrada em cursos profissionais.
Os cátedros da fome nunca sentiram fome.
A fome é um número estatístico a diminuir nas pastas dos decisores políticos.
Para os decisores políticos, num jantar privado, a fome é um conceito abstracto, subjectivo e bastante discutível.
A fome tem a sigla FMI.
A fome não tem partido e desistiu da democracia, se é que alguma vez nela pensou.
A fome é o improviso das horas que ribombam no estômago.
A fome é ter pressa e voar num carro emprestado e cruzar com polícias à caça da multa, por directivas das chefias.
A fome é uma multidão crescente de anjos sem asas em queda permanente.
A fome exerce-se todos os dias.
A fome não sente amor nem ódio porque só sente fome.
A fome não tem sequer inveja dos ricos ou de quem consegue comer, mas está atenta ao que sobra nos pratos em casa, nas mesas das esplanadas e nos caixotes do lixo.
A fome é a salvação bíblica de uma velha que entra pela porta dos céus por um buraco de uma agulha.
A fome é a porta dos fundos para o paraíso.
A fome é notar nos ratos da sociedade que se multiplicam e que ninguém vê.
A fome são ratos escondidos nas tocas, ao abandono, depois de remexerem no lixo ao anoitecer.
A fome alimenta o terror e a indignação dos que comem.
A fome é o olhar fleumático do comentador político na mesa farta do café.
A fome engorda muita gente.
A fome é um ordenado mínimo, é um segundo trabalho, um terceiro, uns biscates para o vizinho ou conhecido.
A fome é 100% disso tudo o que se dá, mais uma taxa de juro variável sobre tudo o que existe, incluindo o ar que se respira.
A fome são dias de desistência; as roupas empilhadas por passar a ferro, a casa por arrumar, um abraço ao próprio corpo dormente e dorido no sofá, uma lágrima furtiva no silêncio da hora mais solitária.
A fome são remendos de roupas velhas.
A fome são muitos quilos de arroz.
A fome é a obstinação em viver.
A fome é uma luta titânica e utópica.
A fome é encontrar a réstia de esperança na caixa de Pandora, pelo meio do turbilhão dos males do mundo e nunca parar, nunca desistir; correr de um lado para o outro entre trabalhos e afazeres voluntários e sorrir quase sempre numa voluptuosa embriaguez de carência.
A fome é uma embriaguez insana de fé sobre o dogma da sobrevivência amanhã.
A fome é não ter soluções e improvisar na venda dos objectos que perdem utilidade, nas moedas perdidas nas calçadas, nas moedas deixadas ao abandono nos parquímetros dos estacionamentos.
A fome é a desculpa moral para a peça de fruta roubada do quintal vizinho.
A fome é doença e taxas moderadoras ao pequeno-almoço no hospital.
A fome é o aviso do médico para a falta de proteínas e vitaminas enquanto passa receitas de comprimidos que engordam a Indústria Farmacêutica.
A fome são uns trocos emprestados que nunca se vão devolver.
A fome são listas de dívidas nas casas de comércio.
A fome é caridade de pessoas com menos fome.
A fome é a caridade dos amigos e um silêncio de obrigado.
A fome é desistência do orgulho.
A fome são inúmeros obstáculos concretos ultrapassados metaforicamente pela alma e a razão.
A fome são velhos a pedir moedinhas nos becos.
A fome são sonhos de criança por cumprir.
A fome é uma piça enterrada no sonho, esporra que lubrifica a garganta seca e nota que, cheirando a podridão, ainda se respira.
A fome é “Puta que os pariu a todos”.
A fome não pode ser silêncio, agora!
5.
A criança corria regando-se de suor
como orvalho em erva daninha.
O Verão trazia a debulhadora industrial
e a maravilha da técnica aos ermos serranos.
A tarde amarelada enrolava-se
nos dedos gretados dos velhos.
O cheiro da terra curtida erguia-se
na pausa do olhar cansado.
A criança suspendia-se
no suor da testa dos outros,
como orvalho em árvores antigas;
os velhos enfardando os erros herdados,
na sombra da máquina,
sussurrando leis gerais a debulhar.
O suor sumindo-se na terra pobre
rumo às fontes termais burguesas do vale.
O dia fechava-se nos lenços sujos
pendendo dos bolsos rotos,
nos passos lentos rumo a casa
onde Pandora guardara a Esperança.
Não lembro o que a criança concluía
no regresso nocturno de bicicleta;
que justaposição de imagens
a iluminação pública fomentava
no embalo dos pedais rumo ao sono.
O sonho separava a semente
dos fardos de ideias secas,
que serviam a fome de todos os seres.
Germinavam poemas, de crescimento lento,
nascidos nas mãos jovens calejadas.
Cada palavra um inocente eco escrito
do esforço que assomou à garganta
e saiu livre pelos dedos, como música.
Cada sentido uma alienação primitiva
contra o dogma cristão capitalista.
Cada verso a urgência infantil do labor sem lucro,
como construindo praças nos baldios,
que todos podem frequentar.
Cada estrofe a crueldade hierárquica de patrões,
ou o lenço limpo que cega a Justiça do mundo.
A erva daninha foi despertando
entre o amor ou a natureza,
como objectos do trabalho livre.
Pela manhã sobrava o tempo de brincar,
em mais um dia estendido no ruminar dos rebanhos,
no soberbo chilrear dos pássaros,
no florescer orvalhado e nunca concluído do futuro.