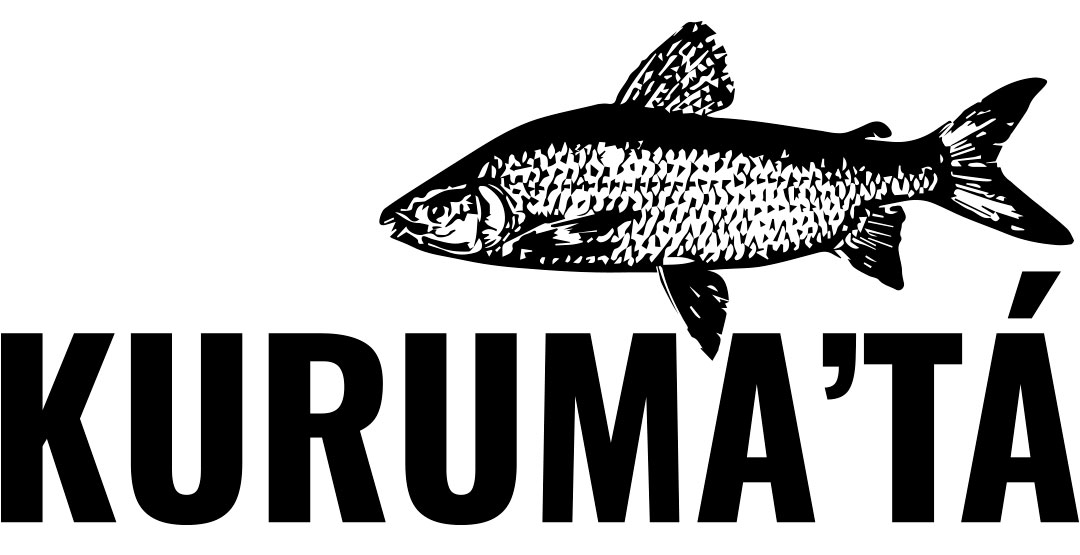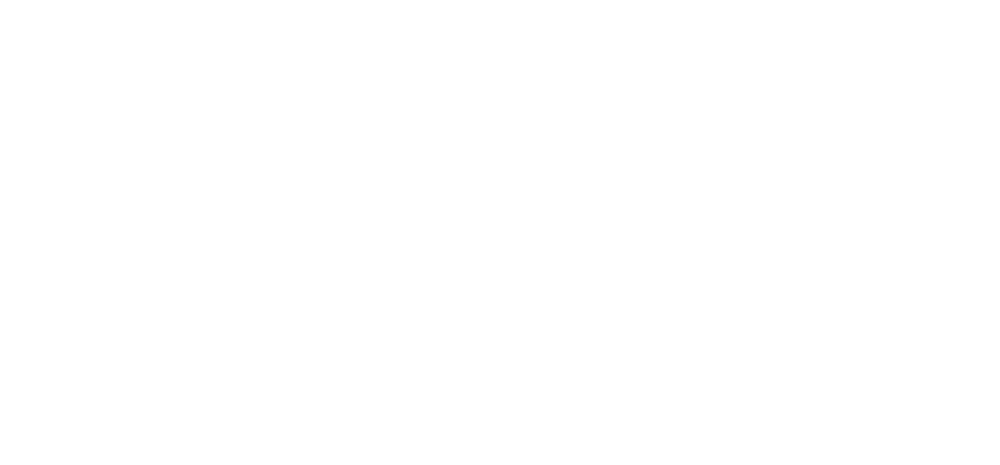Texto de Toinho Castro —
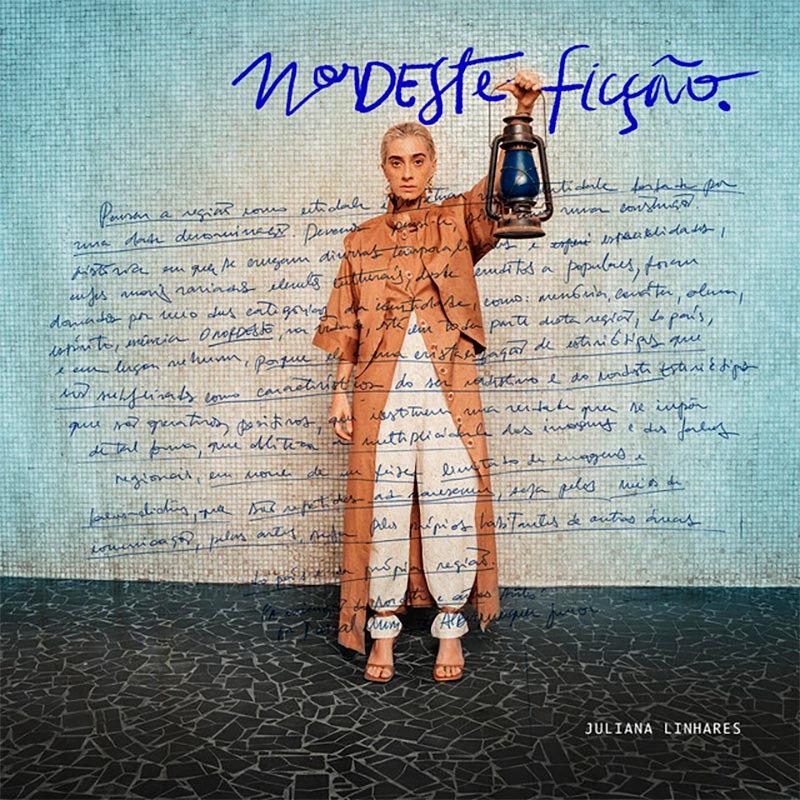
Já contei essa história aqui, em outro texto, mas vale recordá-la. Eu era moleque, me encantando com os primeiros contatos com a ficção científica. Ainda sem entender muito bem, mas fascinado por aqueles mundos distantes da minha rua. Certa vez visitamos tia Nadir, minha tia avó, por parte de mãe. Lá na Vila Tamandaré. Enquanto os adultos conversavam, eu me entretinha com uma edição de bolso de 2001/ Odisséia espacial (Assim era o título, nessa edição!), de Arthur C. Clarck. Como eu já disse, não entendia muito bem, mas viajava naquilo! Em dado momento, tia Nadir passou por mim, reparou eu lendo e pegou o livro da minha mão. Observou, folheou rapidamente, olhou pra mim e disse: Eu também vivi uma odisseia. Depois dessa frase fantástica, ela me narrou sua viagem, de ônibus, a São Paulo (Ou Rio de Janeiro?!), lá em mil novecentos e bem pouco. Ouvi atento, e minha tia parecia-me mais uma astronauta das páginas de Arthur C. Clarck ou Asimov.
Em 1993, atravessei eu mesmo o Brasil, do Recife ao Rio de Janeiro, na mesma trilha de tia Nadir, num ônibus da Itapemirim. Uma longa viagem pela BR-101, pra descobrir, em Ipanema, que eu sou Nordestino. Pra descobrir que falo outro idioma. Que eu sou outro idioma. Porque somos linguagem. Ser reconhecido ou confundido com baiano pelo sotaque… na sequência, a explicação: Não, sou do Recife. Das quantas vezes que escutei as pessoas dizerem que amam as praias e o carnaval, e me perguntarem do frevo ou do maracatu, ou Olinda. Ou se eu conhecia Fulano. “Mas ele é de lá!”. Não, eu não conhecia fulano e ouvia rock progressivo num quarto na Imbiribeira, na rua Pampulha.
Mas era sempre como se eu precisasse corresponder à expectativa desse lugar imaginário, sem imaginação, porém. O lugar repetido de uma pessoa pra outra. Eu era de outro lugar.
Com 25 anos de Rio de Janeiro, feliz em Vila Isabel, boto pra tocar o Nordeste Ficção, primeiro trabalho solo de Juliana Linhares. Gente, como faz com esse disco?! É como um reencontro comigo mesmo e com os meus. Ainda aqui, sob o impacto da emoção poderosa que brota da audição do trabalho dessa potiguar.
Lá em 1979, Belchior anunciava: Nordeste é uma ficção / Nordeste nunca houve.
Movida pela encenação da peça A invenção do Nordeste, do Grupo Carmin de Teatro e pela leitura livro A invenção do Nordeste e outras artes, de Durval Muniz de Albuquerque Jr. (Comprei!), Juliana construiu no seu disco um painel iluminado, de alegria, dança, força, vida, música, coragem, amor, saudade, infância, crença… um mapa vertiginoso desse Nordeste, que não é uma delimitação geográfica, mas uma vitalidade, um embrenhamento de pessoas e trocas culturais e afetivas.
Quero dizer a Juliana que quando escutei Bombinha (composição de Carlos Posada, nem acreditei no recado certeiro: E não quero ir pra Marte / Quero ir pro Ceará! Num mundo torto de Jeffs e Elons enviando turistas pro espaço, quero pegar de volta a BR-101. É uma abertura de caminhos, de jornadas, por um continente interior, que é feito de gente. Gente espalhada pelo mundo, gente que canta e cuida dos seus. Bombinha é esse chamamento poderoso para o brincar. Força e lirismo. Um negócio de arrepiar. Um estandarte anunciando o que virá a seguir, na próxima música. E na seguinte e nas outras.
E o que vem na sequência é esse olhar terno para nós mesmos, um rendado delicado e comovido, uma conversa de portão, quando anoitece. O balanço do mundo, o balando da rede no terraço, do casal ao som do fole numa noite de junho. O disco de Juliana é um inventário de um Nordeste, não o inventado, mas o sonhado e vivido, como em sonho. Lá estão minha mãe, meu pai, meus avós na rua dos Pescadores, meu bisavô Miguel Canuto, em Natal, olhando do seu portão a Avenida Um. A valsa que ele fez pra minha bisavó, Dedê.
Juliana tem uma voz poderosa, nítida, cheia de lirismo, que tece memória e contemporaneidade com elegância e alegria. Como toda festa, Nordeste ficção é feito de muita gente. Tá lá o genial Chico César em duas parcerias com Juliana (Embrulho e a deliciosa e amorosa Lambada da lambida), tá o Zeca Baleiro no dueto e parceria de Meu amor afinal de contas, a presença de Petrúcio Amorim com sua Tareco e Mariola, o grande Jessier Quirino com a lindeza do seu Bolero de Isabel e um Tom Zé clássico e cirúrgico com a inédita Aburguesar, que conta ainda com um dueto com Letrux!
Perpassa a ideia de Nordeste a afetividade, a criatividade e também a política, e é com força política demolidora, mas também divertida, cheia de ironia, vibração e coragem que Juliana encerra o Nordeste ficção, com Frivião que não deixa, jamais, a gente se aquitar!
Vem me atacar
Que quando eu canto milhões se juntam pra cantar
Vem se assumir
Que eu canto de peito aberto, que é certo, esse mal vai sumir
Vem me abraçar, vem se amar, sacudir, vem dançar
Vem falar, se esfregar, se perder, libertar
Em toda forma de amor há motivo pra gente lutar
O coração na canção grita que assim não dá não
Tradição, mutação, vida e evolução
O frivião que não deixa se aquietar
Nordeste ficção me chegou como uma descarga elétrica, arrepiando. Chegou com uma afirmação poética e libertária. Jogando pro alto o Nordeste fácil e abrindo a complexidade de falas, olhares, visões versos e vidas do lugar onde eu nasci. Conheço o meu lugar.
Fazia tempo que eu não chorava ouvindo um disco. Obrigado, Juliana.
PS. Que capa linda, rara!
Aproveito para compartilhar um texto que escrevi há tempos, movido por esse sentimento que a gente encontra em Nordeste ficção. Só que eu falava do Recife, do meu bairro a Imbiribeira. Um microcosmos que contrastava com os clichês acumulados, esses que roubam a narrativa do que é uma cidade e suas ruas.
Acabei escrevendo e publicando um livro, Imbiribeira, para revelar esse slide guardado na memória e surpreender as pessoas com o que eles não imaginam que seja o meu lugar, aquilo que sou.
O meu Recife é outro
do livro Imbiribeira
de Toinho Castro
Quando chego num bar, numa reunião de amigos, basta eu começar a falar e logo alguém repara no meu sotaque, aos poucos perdido nas águas da fala carioca, e pergunta-me: Você é de onde? Mal
afirmo ser do Recife e já começam, um e outro, a tecer loas sobre meu sotaque restante, e sobre a cidade de onde vim, há mais de vinte anos. Em geral, a gentileza das pessoas, sempre bem-vinda, evoca o Recife que lhes é acessível, de pontes e poesias, como as de um João Cabral de Melo Neto. Ou frevo, às vezes Capiba, inevitavelmente as praias… assim como ao falar do Rio de Janeiro, evocariam o Cristo Redentor, o samba ou a feijoada. Mas preciso dizer que, embora esse Recife faça parte do meu repertório, o meu Recife é outro. De outra ordem e natureza.
Meu Recife é muito diferente do Recife mítico do Capibaribe ou rua da Aurora, ou dos versos de Ariano Suassuna no seu poema Canto Armorial do Recife – Capital do Reino do Nordeste, a nos lembrar o lugar do Recife no mapa afetuoso de Pernambuco.
Meu Recife não é capital nem nada; é beira do tempo e do espaço. Meu Recife é o Recife da Imbiribeira e do Ipsep, do Ibura, com o mar logo ali adiante, bafejando maresia. Meu Recife é espalhado de galpões, oficinas e pequenas favelas escondidas; a Ilha de Deus e o Mata Sete, fermentando sob o ruído dos aviões decolando no Aeroporto dos Guararapes. Tenho essa recordação, de estar no alto do Montes Guararapes com meu pai, assistindo ao aeroporto acontecer logo ali abaixo. A pista extensa e a luz acinzentada de um fim de dia. Será verdade ou memória inventada de tanta vontade?
Meu Recife é de pouca luz e muitos terrenos baldios, de Ave Maria rondando as casas ao anoitecer e do caminho até o bairro de Afogados. Um Recife sem épicos, sem movimentos musicais ou brincantes. Uma ou duas bodegas, o canal, vestígio do mangue, cheio ainda de xiés, e as fogueiras cobrindo tudo de fumaça nas noites de São João. Entre tantas fogueiras acesas no passado, curiosamente, nunca esquecerei é a fracassada fogueira de paus verdes, que meu pai comprou e chiava, espumando ao calor, como os xiés no velho canal, mas não pegava fogo de jeito nenhum, em tentativas cada vez mais infrutíferas de acendê-la. Nem sai da lembrança a canjica com gosto de sabão, tão mal preparada pela vizinha, cujo nome não revelo. Ela já não está entre nós há alguns anos. Partiu, talvez, sem aprender a fazer uma boa canjica; o que não sabemos, no entanto, é também parte do que somos. Recordá-la pela sua canjica intragável não deixa de ser uma curiosa reverência. Em tempo: você precisa limpar todo o cabelo das espigas de milho, caso contrário, saberá a sabão. Permito-me também essa vaidade de guardar um pequeno segredo.
Esse Recife, não recordo de ter sido registrado em verso ou cinema ou fotografia, ou algo qualquer que a gente possa chamar de arte. Um Recife desaparecido, por definitivamente irrelevante, para além das pequenas vidas que ali se moviam e dali desapareceram. Meus amigos e eu nos reuníamos às vezes em volta de um bueiro na encruzilhada da rua Pampulha com a rua Itamaracá, para falar sobre coisas que jamais interessariam a mais ninguém; nossas vidas pequenas e sem esperança na escuridão reinante à nossa volta. Eram os marcos desse meu Recife a ponte na fronteira com a Vila do Ipsep, que eu atravessava de bicicleta pra vadiar; a linha de trem, cruzada cotidianamente para ir à casa de Roberval, e que nos separava também de Boa Viagem, da praia; havia ainda o aeroporto, fronteira com o mundo, e a ponte Motocolombó, nos limites com o bairro de Afogados.
Um Recife mínimo, sem charme, impermanente. Quando escuto barulho de avião ainda olho pro céu e tenho a lembrança de algo que pode não ter acontecido, eu e meu pai no alto da colina dos Guararapes.
ATUALIZAÇÃO
Showzaço de Juliana Linhares no Festival Levada
9 de dezembro de 2021 – Teatro Rivel Refit




Fotos lindas de @rogeriovonkruger, cedidas pelo Festival Levada
___
Nessa última quinta a Kuruma’tá botou o pé na rua pra ver o primeiro show desde que a pandemia começou. E somente o @festivallevada pra motivar esse feito. O Levada com sua alegria e curadoria de primeira linha. E o show escolhido dentre os quatro programados nessa primeira etapa no festival foi Juliana Linhares, com seu Nordeste Ficção!
A Juliana Linhares é uma fonte de energia e encantamento. Quando ela abre aquela voz límpida, potente, tudo se alumia! Desfiando o repertório do disco lindo que ela realizou nesse 2021 (Leia aqui sobre o Nordeste Ficção), Juliana nos pegou pela mão pra dançar e viajar por um Nordeste acima dos clichês.
Sua música é território. Sua presença de palco é onda que se espalha e preenche espaços e corações de quem a assiste. Aquece. O show Nordeste Ficção é pautado pelo encontro, com a música cumprindo seu belo papel de conectar as pessoas numa só, nessa imensidão nordestina de sertões, praias, terreiros e quintais. Nordeste da fala, da dança, da literatura imensa que mapeia modos de ser, de estar e imaginar. O amado Teatro Rival estava nordestinado.
Escutar Galope razante, de Zé Ramalho, e Capim do Vale, de Paulinho Tapajós e Sivuca e ancestralizada na voz de Elba Ramalho… Escutar essas música com Juliana, é de dar água nos olhos. Reencontro com uma música formadora, chão de terra. De repente todo mundo ali sabe de onde veio e o que nos liga. E chegando aos tempos novos, das novas vozes, tá Karina Bhur, representada com uma vibrante versão de Eu menti pra você. E a beleza da versão em libras de Embrulho, emocionante porque foi tão natural e tão necessária nesse país que urge por inclusão!
Saímos dali de alma lavada, lembrados de que se tem alma e leveza. O show foi um retorno ao mundo, ao Rival, aos encontros. Um retorno à casa, como se logo ali estivessem as águas mornas de Boa Viagem, do Cabo Branco, de Ponta Negra.
PS: Todo show devia ter violino!!!!
PS2: Banda impecável