Texto de Toinho Castro

A imagem não é muito boa, há sempre algum ruído e a gente sente o esforço dos dados, dos pixels, para migrar entre nós, carregando as imagens de uns para os outros. O som é sempre um pouco metálico, estranho, sempre um pouco fanhoso, porque nossos microfones e altofalantes, ou fones de ouvido, não são mesmo grande coisa. Então enquanto eu converso com alguém, tento filtrar aquele som pela memória, a fim de recuperar a voz da pessoa. A fim, na verdade, de não perdê-la, como aos poucos vamos esquecendo a voz dos mortos. Então, cada palavra dita é ouvida com atenção, é polida, burilada, até que, por fim, a pessoa esteja ali, naquela voz. Sempre haverá uma dúvida… a memória sempre tem algo de armadilha. Mas é o que temos… tudo pede essa contraprova. Por fim, há o delay. Há sempre um delay. Você sabia que a luz do sol leva 8 minutos para cumprir seu caminho até a terra? Se o sol apagasse sua fornalha neste exato instante, levaríamos oito longos minutos para descobrir. Com algum aviso de antecedência, poderíamos aproveitar esses oito minutos da melhor forma, estirados na grama dos parques, até o mundo acabar. Pelo menos os que estivessem no lado iluminado do planeta.
Com o som não é diferente. Na mesa do bar, com as amizades, toda a conversa parece acontecer imediatamente, em tempo real, mas a verdade é que as palavras viajam pelo ar, graças ao ar, e levam um tempo, ainda que mínimo, imperceptível, para chegar a quem está ao seu lado ou do outro lado da mesa. Na transmissão de vídeo, a qual estamos resignados, a pessoa chega até você com um atraso evidente. Muitas vezes a voz se desencontra do movimento dos lábios, perdendo a sincronia, nas duas direções da conversa. Às vezes isso causa pequenas confusões, sobreposições de falas e risos. E, eventualemnte, algo se perde.
Sinto como se estivéssemos, cada um de nós, vivendo em estações espaciais, orbitando a terra, quilômetros acima da superfície. Em tudo que fazemos há certa falta de gravidade. Olhamos pela janela e vemos um mundo silencioso a girar em torno do próprio eixo, no seu ciclo infindável em torno do sol, esse mesmo sol que leva oito minutos para nos alcançar. Entre nós e o mundo, entre cada uma dessas estações espaciais, também a girar em torno de um eixo, temos essa espécie de vácuo, que se estende longamente, alcançando mesmo a vida interior de cada astronauta, que parecemos ser, em seu isolamento, em seu núcleo familiar, por trás de cada janela que dá para esse planeta ao qual ansiamos retornar. Ao qual acabaremos por retornar, posto que a cada volta parece que estamos mais próximos, perdendo pouco a pouco a altitude. E enquanto isso sinais de vídeo, de áudio, bits, pixels, vão sendo arremessados de uma estação a outra e a outra e a outra. Conversas cruzadas, telegráficas, cansadas, intensas, sobre o mundo lá fora, sobre as pessoas que queremos ser quando enfim… quando enfim o que? Quando o mundo for novo outra vez? Quando o medo cessar? Quando eu ou você pisarmos na rua, como um Neil Armstrong tardio, redescobrindo o que sempre esteve ali? As árvores, as pontes, as longas avenidas, o rio Capibaribe, a padaria na esquina.
Até lá, nossos aparelhos monitoram as condições do ar, das superfícies, das ruas; e volta e meia alguém arrisca uma caminhada lá fora. Máscara no rosto e andar hesitante, quase arrastando atrás de si um fio de ariadne para não se perder, para poder voltar antes que caia a noite, a tempo de uma última videochamada que ilumine o quarto escuro. Já notou isso? Quando um rosto aparece na tela do celular, uma luminosidade nos acerta; uma claridade. O tom da luminosidade sobe. É um alento. As telas são nossa fonte da luz que cada um carrega em si. Cada ponto de luz, em cada casa… uma pessoa.
E falamos de cá e de lá, disso e daquilo, puxamos assunto como quem puxa o ar para respirar. Como se a conexão pudesse cair se ficássemos em silêncio; como se o que nos ligasse fossem as palavras. Eu e você, num bar, estaríamos possivelmente calados, bebendo nosso chope ou nosso vinho, na delicadeza de nada ter que falar. Satisfeitos em estar ali, lado a lado, brindando, talvez, ao silêncio. Esse silêncio impossível nas teleconferências que seguem preenhendo a falta do contato físico, em que precisamos preencher cada instante com algo a dizer. Cada vez mais, enquanto fundamos no vazio do cosmo, nos tornamos voz. Nos tornamos o inatingível, algo imaginário, uma possibilidade, uma potência. Enquanto respondermos às chamadas, tudo bem…
Olho pela escotilha da minha estação espacial, do meu laboratório cuja experiência sou eu, e anseio o mundo. O celular na mesa, calado, denuncia meu maior medo, o “silêncio no rádio”; todas as estações fora do ar, solitárias em suas órbitas. Um zunido, um ruído de fundo, daquela explosão em que tudo se originou, para terminarmos assim, isolados uns dos outros, construindo pontes imaginárias que podem ruir como qualquer ponte.
Espero que não. Espero reabrir a escotilha num dia de verão.

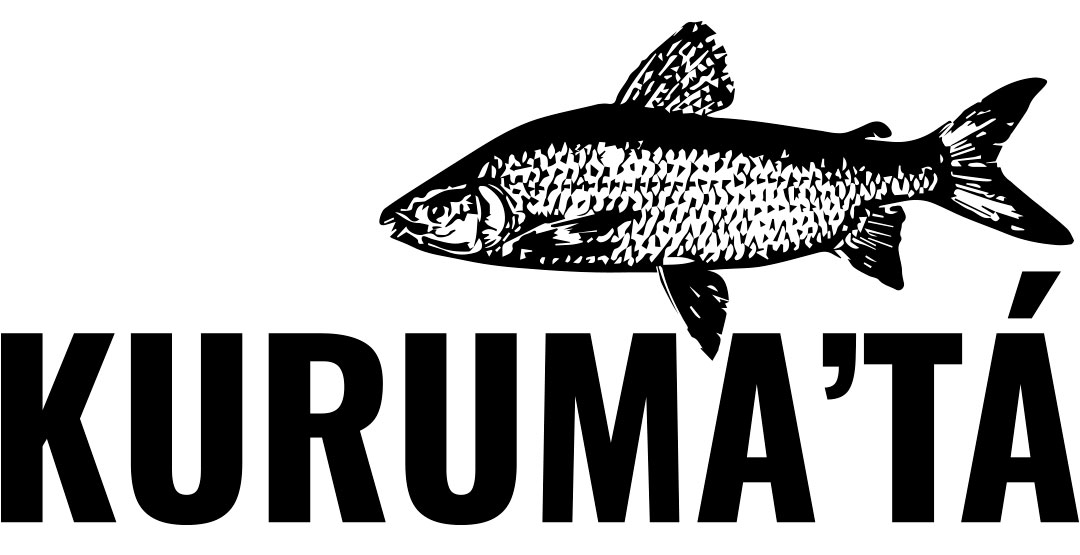
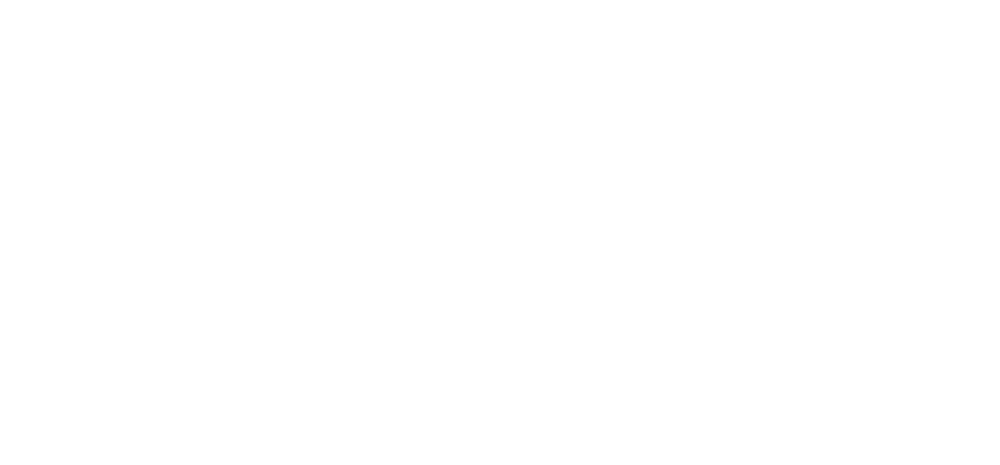
Maravilhoso!
Senti identificação e nostalgia. E saudade também. E vontade de chorar 🙂 Que lindo texto, Toinho!!!
obrigado! fico feliz por escrever algo que chegou assim a vocês. é o sentido da troca, do partilhar. chegar ao outro.