Texto de Eduardo Frota
Maria deixou um bilhete em cima da mesa da cozinha.
A sala de jantar, vazia. O quarto do casal, bagunçado. O banheiro, repleto de roupa suja. O corredor, tortuoso e escurecido. O sinteco, gasto. A poeira, voadiça. A casa em silêncio, como quem medita e contempla a si mesmo em busca de entendimento para aplacar o prurido provocado pelas perguntas. De dentro pra fora, era como se um suspiro a inquerisse, noite e dia.
O que lá dizia?
Bilhetes eram melhores que as epístolas, julgava Maria. Para quem sempre economizou palavras, para quem sempre largou os livros logo nas primeiras páginas, para quem tinha aquele antigo e detestado caderno de caligrafia, o bilhete se transformou em uma saída para tornar suas reflexões concisas.
Logo acima do piso de ladrilhos com desenhos geométricos quase que esculpidos pelo tempo, a mesa posta para o desjejum de uma pessoa, apenas: um copo virado de cabeça para baixo, um guardanapo dobrado, dois talheres e uma garrafa térmica com café requentado porque não havia tempo. Não havia tempo a perder em meio à derrocada das horas. Uma cadeira permanecia de pé. A outra estava virada com os pés para cima, feito um inseto alvejado por pesticida lutando pela vida.
O que lá dizia?
Não era um bilhete suicida, porque não havia a palavra adeus mesmo que seu mundo fosse cruel e uma despedida antecipada, desafiando a lei natural dos viventes, fosse crível. O remédio controlado permanecia na escrivaninha do quarto com o número correto de drágeas que deveriam ser ingeridas até a necessidade de uma nova receita médica. Não era afeita ao álcool, nem ao fumo – talvez às seringas, apesar de nunca ter acreditado em heroínas.
Não era um bilhete de quem tivesse ido à padaria comprar queijo prato e presunto para o lanche, pois a geladeira estava abastecida o suficiente para refeições futuras. Bastava olhar as frutas para entender que um planejamento existia: fatias em porções harmônicas. As hortaliças jaziam higienizadas no fundo de uma gaveta. Potes, potinhos, diversos deles, pobres potes, organizados de uma maneira que não condizia com a Maria desalinhada do dia a dia – como dizia o síndico do prédio e a vizinha.
Não era um bilhete de amor o de Maria porque ela simplesmente não amava ninguém, nem mesmo sabia desenhar um coração gestáltico com as duas metades em harmonia. É que faltava coordenação motora fina na vida de Maria. Apaixonada era pelas novelas, pelas novenas, pelos mocinhos e pelas donzelas. Torcia por finais, ainda que não fossem tão felizes assim. E se via no espelho, se arrepiava por inteiro, notava estar tão distante. Deitada na cama, aceitando a derrota, sentia-se plena e segura. Amarrada aos fios em cujas pontas prendiam-se seus sonhos, rogava pelo efeito ligeiro do fármaco que a conduziria ao sono.
E se palavra alguma tivesse sido escrita?
Não era um bilhete de loteria, pois Maria, pobrezinha, não tinha por hábito apostar no futuro – o seu e o de quem ou o que a cercava. Lembra-se dos vícios? Jamais ela jogou ou julgou quem assim fez, mesmo imaginando que o passaporte para a felicidade passava pela obrigatoriedade em transpor os limites impostos pelas quatro paredes do que chamava de lar. Ganhar dinheiro de nada adiantaria: aumentaria a largura da alvenaria, mas trancafiada em território submisso permaneceria, ela, observando a pungente vida apenas por uma fresta da janela.
Não era um bilhete de trem o que havia deixado Maria. Por ali não havia trilho, não havia ferrovia. O silvo do maquinista vibrava ao longe e chegava fraco demais até ela, dissipando-se no horizonte. A fumaça esbranquiçada da fornalha se assimilava a nuvens vistas de muito longe. Logo, encontrava as ideias encurraladas, os ideais admoestados na terra batida. Não havia saída nem pra rua nem pra Maria. As esquinas do passeio público com linhas obtusas, mal esquadrinhadas, de calçamentos esburacados e devaneios empoçados. A água parada, criando mosquito, Maria prostrada, perdendo o juízo.
Mas então o que lá dizia?
João nunca saberia, pois Maria havia deixado aberta uma janela, justamente a da cozinha. A ventania, como um poeta em agonia, tratou de se livrar do bilhete. Acostumado a ler o jornal matinal, adestrado a dobrar e desalinhar com avidez a seção de esporte e o noticiário policial, ele nunca colocara os olhos sobre Maria. Sobre o bilhete, a oportunidade faltaria. A primeira observação de João foi perceber a ausência de margarina. Amargo, desejava três ou quatro tragos de cafeína. Assim começava mais um dia.
O que ela sempre dizia:
“Um dia, João. Um dia…”
“O que é, Maria?” –
era o que ele dizia.
Antes de fechar a porta da casa e ganhar o caminho da labuta, ele notou o furo na calça que acabara de vestir. Em dois atos, os neurônios crepitavam produzindo fagulhas: pensou em agulha, pensou em linha. Quem alinhavaria a avaria? Enquanto isso, o bilhete ainda voava para longe, despercebido. As palavras agarradas a ele e cerzidas indelevelmente por entre linhas invisíveis. A casa finalmente vazia. Pior do que não saber o que lá o bilhete dizia, João era incapaz de ler nas entrelinhas de Maria.


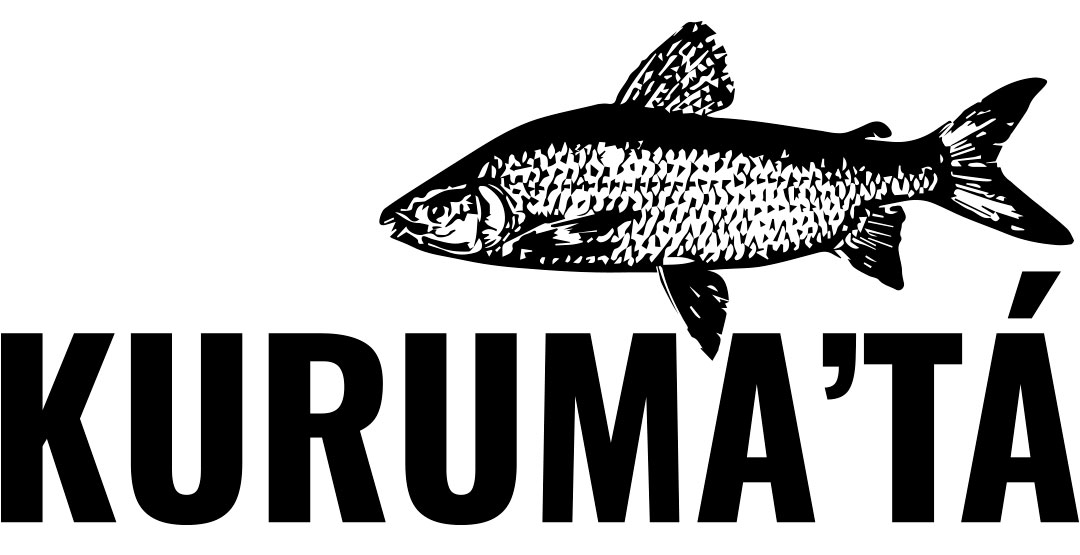
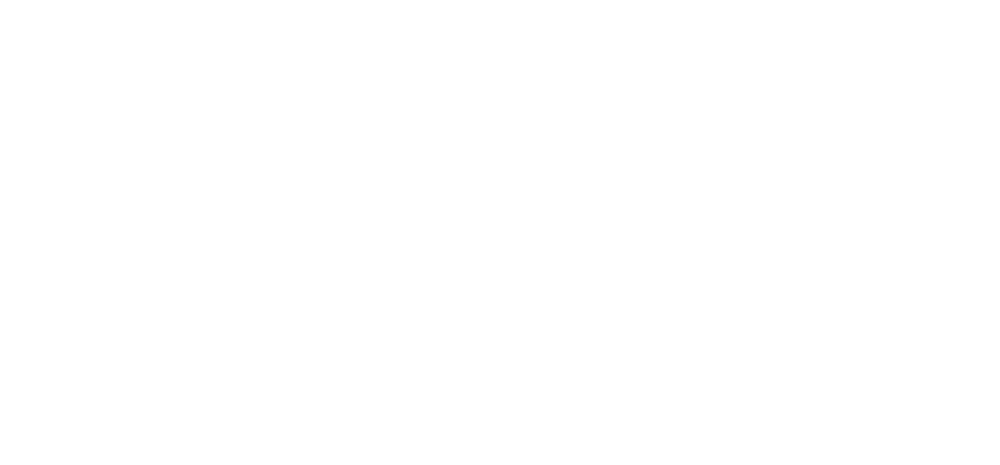
Muito bom acompanhar o amadurecimento deste escritor. Seus textos, sempre tão sensíveis e sutis, ganham cada vez mais corpo e personalidade. Já consigo reconhecer seu estilo, assim como quando nos apaixonamos por uma banda e logo nos primeiros acordes de uma música que nunca ouvimos antes, sabemos, com aquela certeza sensorial, que é da banda querida. Adorei costurar com Maria. <3
Que texto lindo!
Sensibilidade pura, como toda produção do Eduardo Frota. Texto que chega e toma o coração da gente!